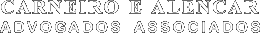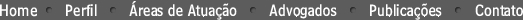O PRINCÍPIO SENTENTIA HABET PARATAM EXECUTIONEM E O PRAZO DO ARTIGO 475-J DO CPC
“É de fundamental importância a mudança de mentalidade que seja capaz de rever as categorias, conceitos e princípios estratificados na doutrina dominante, pois somente assim poderão ser extraídas desses dispositivos todas as conseqüências possíveis para a modernização de nosso processo civil” (Kazuo Watanabe, RePro, 155/169).
A multa de 10%, prevista no art. 475-J, incide de modo automático, 'ope legis', caso o devedor não cumpra a ‘ordem’ do juiz nos quinze concedidos na norma legal.
1. O processo em Roma imperial, no período da cognitio extra ordinem, caracterizou-se pelo paulatino desaparecimento de sua divisão em duas fases (perante o pretor, que dava a ‘fórmula’, e perante o iudex, que julgava a lide), perdendo o anterior caráter contratual (litis contestatio) e privado para assumir caráter público, e o magistrado estatal passou a presidi-lo do começo ao fim 1.
A execução já desde muito recaia sobre o patrimônio do devedor (e não mais sobre sua pessoa, como ocorrera anteriormente à lei Poetelia Papiria (ano 326 a.C.), porém a actio iudicati continuou sendo o instrumento para o litigante vitorioso pleitear a execução da sentença. O direito romano nunca concebeu a sentença, em si, como ‘título executivo’, e assim a actio iudicati, embora já sem motivos para a dicotomia, persistiu até o fim do Império, por “simples inércia histórica” (Humberto Theodoro Jr., As Novas Reformas do Código de Processo Civil, Forense, 2006, p. 99).
Ocupado o território do antigo Império Romano do Ocidente 2, nos séculos IV e V, pelos povos bárbaros oriundos da Germânia e do norte e leste da Europa (francos, godos, vândalos, lombardos e tantos outros), ocorreu, no plano do direito, o embate entre duas mentalidades bem diversas: a mentalidade das populações romanas e romanizadas, onde persistia o respeito à idéia de direito legislado e aos princípios básicos do processo, como o contraditório; e os costumes dos povos invasores, geralmente com a prática da penhora privada, sob a rude ‘justiça’ geralmente pela própria força (José Alberto dos Reis, Processo de Execução, Coimbra Ed., 1943, v. I, nº 24; Liebman, Processo de Execução, Saraiva, 2ª ed., 1963, nº 6, pp. 9/10).
A conciliação surgiu após o século XI, com o ressurgimento do estudo do direito romano (Universidade de Bolonha), e os juristas da Idade Média (sobretudo pelo magistério de Martino de Fano, séc. XIII) lograram um eficiente e útil compromisso entre as duas correntes: da herança romana mantiveram o princípio da necessária precedência da cognição ampla e de uma sentença condenatória; mas afastaram (salvo exceções) a execução mediante uma actio iudicati, possibilitando-se a execução da sentença simplesmente per officium iudicis, sem necessidade de uma nova e autônoma demanda (Moniz de Aragão, Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, Saraiva, 1965, nºs 32 a 35) 3.
Isso significou, no magistério de Liebman, “atribuir à sentença condenatória eficácia nova, desconhecida em épocas anteriores, como é a de ser por si só suficiente para permitir a execução, sem necessidade de nova ação e novo contraditório: sententia habet paratam executionem” (Processo de Execução...cit., p. 10). Assim, o requerimento visando o cumprimento do determinado na sentença não mais constituía o exercício de uma ação, mas sim passou a representar simples ato de impulso processual com a finalidade de provocar o juiz a promover os atos executórios (Liebman, Embargos do Executado, trad. port., Saraiva, 2ª ed., nº 36). Como lembrou Moniz de Aragão (ob. cit., nº 34, p. 30), essa execução feita breviter, atribuída aos que se apresentavam em juízo com uma sentença condenatória em seu favor, veio a ser também proporcionada aos que exibissem instrumenta guarentigiata, ou seja, confissões de dívida passadas perante notário (aplicava-se o princípio romano de que confessus pro iudicato habetur), eficácia mais tarde atribuída às letras de câmbio e aos créditos incorporados em outros documentos, como na França as lettres obligatoires passées sous Scel Royal; em última análise, aos documentos que na atualidade consideramos títulos executivos extrajudiciais. E a cobrança de tais créditos levou a um procedimento sumário, com possibilidade de defesa e a decisão ao final - processus summarius executivus (Liebman, Execução e Ação Executiva, in ‘Estudos sobre o processo civil brasileiro’, 2ª ed., 1976; Cândido Dinamarco, Execução Civil, Malheiros Ed., 5ª ed., 1997, nº 23; Lucon, Embargos à Execução, Saraiva, 1996, nº 14, p. 36).
2. Durante vários séculos, destarte, “coexistiram as duas formas executivas: a executio per officium iudicis, para as sentenças condenatórias, e a actio iudicati, para os títulos de crédito” (Humberto Theodoro Jr., As Novas Reformas... cit., p. 102). Nos casos de execução de sentença, a actio iudicati sobreviveu apenas em situações excepcionais, como nos casos de pedido de juros sucessivos à sentença (José Miguel Garcia Medina, Execução Civil, RT, 2ª ed., 2004, pp. 101-102).
Todavia, por influência do direito francês, nos primórdios do século XIX operou-se uma verdadeira inversão de valores, e o padrão executivo passou a ser não mais a sentença, mas as lettres obligatoires, até que todo o processo executivo se unificou e “então, já não se dizia mais que as lettres obligatoires se equiparavam à sentença, mas sim que esta se equiparava àquelas” (Humberto Theodoro Jr., A Execução de Sentença e a Garantia do Devido Processo Legal, Aide Ed., 1987, p. 145)4.
O sistema foi geralmente adotado nos países de direito codificado. Já os Estados Unidos seguem, sob a common law, o sistema vigente na Inglaterra: “o jurista inglês não concebe como é que, em certos países, um novo processo possa ser mesmo necessário para se proceder à execução duma decisão tornada definitiva” (René David, Os Grandes Sistemas Do Direito Contemporâneo, trad. port., 2ª ed., Lisboa, Meridiano, p. 377, citado por Guido Fernando Silva Soares, Common Law - introdução ao direito dos EUA, RT, 1999, p. 124, e por João Batista Lopes, RePro, 157/11).
No direito brasileiro, pelo sistema (originariamente) consagrado no CPC de 1973, o credor insatisfeito era obrigado a bater duas vezes às portas da Justiça: na primeira vez, para que o Judiciário fizesse o acertamento de seu direito; depois, vitorioso no processo de conhecimento, deveria voltar com nova demanda, com base na sentença e rogando a prática dos atos executivos. Humberto Theodoro Jr. salientou que esta dicotomia reeditava o antiquíssimo sistema binário do direito romano clássico, abandonando a simplificação a que chegara o direito medieval, dicotomia esta agravada, no Brasil, pela excessiva judicialização do processo de execução: qualquer que fosse o valor da condenação, qualquer que fosse a natureza dos bens a serem expropriados, “a atividade procedimental é necessariamente precedida da instauração de um novo e completo processo entre as partes, sob direção do juiz” (A Execução de Sentença... cit., pp. 149-150).
Como ensinou Barbosa Moreira (RePro, 31/199), em linha teórica o CPC de 1973 terá deixado pouco a desejar; todavia, não manteve o imprescindível contacto com as realidades do foro e da sociedade. E à necessária ‘modelagem do real’, para usar a expressão do consagrado mestre, dedica-se a nova Lei 11.232/2005 (Diário Oficial da União de 23.12.2005). A sistemática de dois processos sucessivos, imposta pelo Código Buzaid, conduzia a demoras e formalismos desnecessários, além de incompreensíveis aos jurisdicionados, os quais, não obstante vitoriosos no processo de conhecimento, após anos de audiências e recursos vinham a saber, surpresos, que a obtenção do bem da vida - objeto do pedido formulado na petição inicial, impunha fosse iniciado um ‘novo’ processo, com nova citação e, ainda, a possibilidade de contraditório incidental (embargos do devedor), tudo agravado pelo uso de meios executórios inadequados às exigências atuais da economia.
Diga-se que em sua obra fundamental, redigida anteriormente à vigência do novo sistema, já alertava Cândido Dinamarco que havia ‘boas razões’ para mitigar a clássica dualidade, recomendando então fosse aumentado o número das “chamadas ações executivas lato sensu ou mesmo invertendo todo o sistema para que passe ser regra geral a unidade do processo, com meras fases de conhecimento e de execução” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros Ed., v. III, 5ª ed., nº 920, p. 244).
3. Estas incongruências as leis de reforma do CPC buscaram resgatar:
a) em um primeiro momento, com a generalização do instituto da ‘antecipação dos efeitos da tutela’- Lei 8.952/94, art. 273, que fraturou (ainda que inicialmente muitos disso não se dessem conta) a rígida barreira que até então (salvo limitados casos) separava o ‘conhecer’ do ‘executar’;
b) para as obrigações de fazer e não-fazer, a Lei 8.952/94, mediante o ‘novo’ art. 461, outorgou à sentença de procedência uma eficácia imediata executiva e mandamental;
c) para as obrigações de entrega de coisa, tal eficácia foi introduzida pela Lei 10.444/02, com o art. 461-A;
d) finalmente, para as obrigações de pagamento em dinheiro, pela Lei 11.232/05, em vigor desde 24 de junho de 2006, logo complementada pelas normas da Lei 11.382/06, relativa à execução dos títulos extrajudiciais.
4. Pela atual sistemática, destarte, a sentença condenatória não supõe apenas a eficácia declaratória - no afirmar a existência da relação jurídica que impõe ao réu uma prestação em favor do demandante, e a eficácia constitutiva - porquanto a sentença é uma ‘novidade’ no plano jurídico, constitui-se em ‘título executivo’, antes inexistente. A sentença condenatória, pelo sistema decorrente da Lei 11.232, art. 475-J, passou a revestir-se também de imediata eficácia executiva, ou seja, autoriza por si só o emprego, a simples requerimento da parte credora, dos meios executórios necessários à sua efetiva ‘satisfação’, sem que se faça necessário o ajuizamento de nenhum outro sucessivo processo 5.
E, quiçá o mais relevante, a sentença condenatória veio a revestir-se de predominante eficácia mandamental, pois seu ‘plus’ característico, seu conteúdo essencial consiste na ‘ordem’ do juiz ao réu sucumbente, no sentido de que este efetue o pagamento devido ao autor vitorioso.
5. Parece-nos, portanto, que o renovado ordenamento processual veio finalmente a dar resposta adequada às persistentes indagações relativas à “questão árdua, e para a qual não há solução satisfatória a vista, a estrutura da condenação” (Araken de Assis, estudo na coletânea Aspectos Polêmicos da Nova Execução - 3, coord. Teresa A. A. Wambier, RT, 2006, p. 11 e ss.; Barbosa Moreira, ‘Reflexões críticas sobre uma teoria da condenação civil’, em Temas de Direito Processual, Saraiva, 1977, pp. 72 e ss.). Araken de Assis, no citado estudo, faz remissão à doutrina alemã, que apresenta esclarecedora resposta, simples e direta, no alusivo à ‘estrutura’ da condenação: esta se forma, além da declaração da existência da responsabilidade, pela ‘ordem de prestar’ dirigida ao réu (Leo Rosenberg, Karl Heinz Schwab, Zivilprozessrecht, Munique, 11ª ed., 1974, § 93, I, 1, p. 461). Impende repetir: ordem de prestar.
Cassio Scarpinella Bueno a respeito afirma, com veemência, ser “mais do que hora que entendamos, todos, que o juiz manda quando decide; não pede, nem faculta nada....(omissis)....assim o devedor tem de pagar a quantia identificada na sentença, assim que ela estiver liquidada e não contiver nenhuma condição suspensiva, isto é, assim que ela tiver aptidão de produzir seus regulares efeitos” (estudo na coletânea Aspectos Polêmicos.... cit., p. 136). A sentença, em suma, não é um parecer, mas um ‘comando’ da autoridade (Humberto Theodoro Jr., As novas reformas do CPC...cit., p. 126).
6. Dessa natureza essencialmente mandamental da sentença condenatória em obrigação de pagar, decorrem conseqüências relevantes, inclusive e notadamente no concernente à contagem do prazo (dies a quo) de quinze dias para o pagamento.
Como sublinhou Marinoni, a grande ‘novidade’, em termos doutrinários, é que a ação já agora não mais se exaure com a sentença de procedência e, por isto, o direito de ação não mais pode ser visto como o direito conducente a uma sentença de mérito: “trata-se do direito a uma ação que, na hipótese de sentença de procedência, permita o uso dos meios executivos capazes de propiciar a efetiva tutela do direito material”. A ação é exercida não só para permitir o julgamento do pedido formulado na inicial, “como para exigir o uso dos meios executivos capazes de propiciar a obtenção da tutela do direito reconhecido pela sentença como devido ao autor” (Luiz Guilherme Marinoni, Teoria Geral do Processo, RT, v. I, 2006, p. 265). Conforme Yarshell “as modificações trazidas pela Lei 11.232/05 estão assentadas em uma pedra fundamental que é o fim da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, no âmbito das sentenças condenatórias ao pagamento de quantia”, feita exceção, no entanto, “às hipóteses em que for ré a Fazenda Pública” (Execução Civil - novos perfis, Flávio Luiz Yarshell et alii, RCS Ed., 2006, p. 13).
Com efeito, na busca de efetiva e breve realização do direito afirmado na sentença, com a consequente alteração no plano dos fatos, não havia razão alguma, no plano lógico como no plano prático (salvo o apego a tradições antigas), para as duas ações sucessivas; não subsistia motivo maior para continuar a considerar, nas sentenças condenatórias, a força executória como diferida, “se nas ações especiais a execução pode ser admitida como parte integrante essencial da própria ação ordinária” (Humberto Theodoro Jr., A Execução de Sentença...cit., p. 239, p. 250) 6.
Razão inclusive assiste, portanto, àqueles que sustentam que, tendo a Lei 11.232/05 alterado substancialmente as cargas de eficácia da sentença condenatória, não mais haverá sentido em defender a classificação quinaria das sentenças (Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Execução Provisória no Processo Civil, Ed. Método, 2006, pp. 220/221).
7. Atualmente, pela sistemática decorrente da Lei 11.232, não mais é cabível cogitar (com a vênia de mui respeitáveis opiniões em contrario) de ‘ação de liquidação de sentença’, ou de ‘ação de execução’ decorrente do ‘requerimento’ mencionado no art. 475-J (aliás, simples ‘requerimento’ de impulso processual).
O autor, ao formular o pedido inicial, já exerce em toda plenitude a sua ‘ação’, pela qual postula ao Estado lhe seja efetivamente entregue o bem da vida a que se considera com direito; citado, o réu está citado para a fase de conhecimento, para as fases recursais, para a (eventual) fase de apuração do quantum debeatur 7, para a fase final de preparação e atuação dos meios executórios.
Vale, portanto, reafirmar que, ao ajuizar a petição inicial formulando seu pedido e rogando ao Estado a tutela jurisdicional, o autor estará exercendo, desde logo e integralmente, toda a pretensão que lhe assiste: a de ver seu (afirmado) direito reconhecido, quantificado e cumprido. A ação, pois, é uma só e única, sendo desnecessário cogitar, ante a nova legislação, de teóricos desdobramentos.
A ação (como bem disse Marinoni) não mais se exaure com a sentença de procedência condenatória, mas prossegue, sempre a ‘mesma ação’ veiculada na mesma relação jurídica processual, até a final satisfação do demandante (ob. cit., p. 263). No dizer de Ada Pellegrini Grinover, não mais existirá no processo brasileiro a ‘sentença condenatória pura’ (cujo cumprimento exige processo autônomo), com ressalva, naturalmente, daqueles casos previstos no art. 475-N, parágrafo único, em que a sentença é proferida fora do processo civil estatal brasileiro – casos da sentença penal condenatória, sentença arbitral condenatória, sentença estrangeira condenatória homologada pelo STJ (vide estudo na coletânea A Nova Execução de Títulos Judiciais, Saraiva, coordenação de Sérgio Renault e Pierpaolo Bottini, Saraiva, 2006, p. 261; na coletânea Temas Atuais da Execução Civil, estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin, Saraiva, 2007, pp. 3-5), e exceto, ainda, os casos de execução contra a Fazenda Pública e de pretensão a alimentos (art. 730, art. 733).
8. Assim, na sentença condenatória por quantia líquida (ou após definido o valor em liquidação da sentença), o novo art. 475-J do CPC expressamente alerta para o tempus iudicati de quinze dias, concedido para que o réu cumpra voluntariamente sua obrigação, ou seja, para que obedeça à ordem do juiz, sob pena de pagamento de multa no percentual de 10% sobre o montante da condenação.
Esta norma legal revela e concretiza a nova sistemática, de ação ‘sincrética’ (cognição+execução no mesmo processo), pela qual a sentença de procedência, com a condenação do réu ao pagamento de determinada quantia, passou a ser dotada de atuante e imediata eficácia mandamental e, descumprida a ordem, imediata eficácia executiva. Confirma Cassio Scarpinella Bueno que há uma ‘ordem’ contida na condenação judicial e, portanto, “o devedor deve pagar a quantia identificada na sentença, assim que ela estiver liquidada e não contiver nenhuma condição suspensiva” (A Nova Etapa da Reforma do CPC, Saraiva, 2006, pp. 72-73), correndo o prazo mesmo quando a hipótese comportar ainda apenas a execução provisória (ibidem, p. 77).
9. A respeito do termo a quo do prazo para o pagamento voluntário, é possível relacionar muitas posições doutrinárias.
A) Em primeiro, os que aceitam a orientação (por nós preconizada) de que o prazo de quinze dias simplesmente corre da data da exigibilidade da sentença, orientação já adotada pelo STJ no REsp. 954.859 (4ª Turma, rel. Minº Gomes de Barros, j, 16.08.2007) e encampada por Araken de Assis (Cumprimento da Sentença, Forense, 2006, nº 79, p. 212; Manual da Execução, RT, 11ª ed., 2007/2008, p. 193); por José Roberto Bedaque (Algumas considerações sobre o cumprimento da sentença condenatória, ‘Rev. do Advogado – AASP’, nº 85, maio de 2006, p. 73), por Ernani Fidélis dos Santos (As Reformas de 2005 do CPC, Saraiva, 2006, p. 54); por Guilherme Rizzo Amaral (Cumprimento e Execução da Sentença sob a ética do formalismo-valorativo, Livraria do Advogado Ed., 2008, pp. 184 e ss.); por Petrônio Calmon (estudo na coletânea A Nova Execução de Títulos Judiciais, Saraiva, 2006, pp. 101-103) 8.
Uma variante mais ‘rigorosa’ desta corrente prevê que o prazo dos quinze dias passe a correr da intimação do advogado da prolação da sentença (ou do acórdão), sendo portanto esse prazo simultâneo com o prazo recursal (Bruno Garcia Redondo, rev. Dialética, 59/13-14).
B) Uma segunda corrente comunga do mesmo entendimento, de que o prazo quinzenal deva correr automaticamente a partir do trânsito em julgado da condenação, mas com a restrição de que não será a multa exigível em execução provisória.
Assim, v. g., Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: “...a meu parecer, a multa decorre do fato objetivo do trânsito em julgado da decisão condenatória. Consolidada a dívida, passa esta a ser exigível na sua plenitude, sem qualquer condicionamento, começando então a correr o prazo de quinze dias estabelecido no caput do art. 475-J, independentemente de qualquer intimação” (A Nova Execução, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira et alii, Forense, 2006, p. 195).
No mesmo sentido Humberto Theodoro Jr., a saber: “Para evitar a multa, tem o devedor de tomar a iniciativa de cumprir a condenação no prazo legal, que flui a partir do momento em que a sentença se torna exequível ....(omissis)..... Há, porém, um prazo legal para cumprimento voluntário pelo devedor, que corre independentemente de citação ou intimação do devedor. A sentença condenatória líquida, ou a decisão de liquidação da condenação genérica, abrem, por si só, o prazo de quinze dias para o pagamento do valor da prestação devida. É do trânsito em julgado que se conta dito prazo, pois é daí que a sentença se torna exequível” (As Novas Reformas do Código de Processo Civil, Forense, 2006, pp. 143-145). Ainda José Maria Rosa Tesheiner (Execução de Sentença: regime introduzido pela Lei 11.232/2005, rev. Jurídica, nº 343, pp. 17 e ss.).
Nesta corrente, alguns todavia sugerem que em se tratando de execução provisória, o prazo venha a correr da data da intimação do executado sobre tal execução (Gilson Delgado Miranda et alii, artigo na coletânea Aspectos Polêmicos da Nova Execução de Títulos Judiciais, RT, 2006, p. 193-194), e outros afastam a incidência da multa nos casos em que caiba execução provisória (Humberto Theodoro Jr., As Novas Reformas....cit., p. 144).
C) São diversos os processualistas para os quais o termo a quo do prazo de quinze dias será a data em que o advogado do réu venha a ser intimado para cumprir a sentença (se desta não houve recurso) ou o acórdão, pressupondo-se neste segundo caso o retorno dos autos ao juízo de origem e a intimação do advogado do usual despacho ‘cumpra-se o v. acórdão’ (Cassio Scarpinella Bueno, A Nova Etapa da Reforma do CPC, Saraiva, v. I, 2006, pp. 77-86; Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery, CPC Comentado, RT, 10ª ed., 2007, p. 733); Carlos Alberto Carmona, artigo em A Nova Execução de Títulos Judiciais, Saraiva, 2006, pp.64-65 ).
D) Por fim, aqueles processualistas que sustentam a necessidade da ‘intimação pessoal’ do devedor condenado (até, para alguns, com a exigência de mandado intimatório), a fim de que tenha início o prazo para o pagamento voluntário do montante da condenação (José Miguel Garcia Medina, Luiz Rodrigues Wambier e Teresa A.A. Wambier, RePro 136/289; Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil, Lumen Juris Ed., v. II, 14ª ed., 2007,p. 353-354 e A Nova Execução de Sentença, Lumen Juris ed., 2006, pp. 113-114; Marcelo Abelha Rodrigues, Manual de Direito Processual Civil, RT, 4ª ed., 2008, p. 628 e A Terceira Etapa da Reforma Processual Civil, Saraiva, 2006, p. 129; Sérgio Shimura, estudo na coletânea Aspectos Polêmicos da Nova Execução-3,....cit, p. 567). O argumento maior é o de que se cuida de ato da parte, de ato material de cumprimento da obrigação, devendo pois ser o réu ‘previamente advertido quanto à conseqüência negativa do descumprimento da obrigação’ (RePro, 136/290-291).
Esta orientação, roga-se muita vênia para dizê-lo, vem de encontro aos propósitos que inspiraram a reforma e ao que consta da lei; realmente, com a mera substituição formal da ‘citação’ pela ‘intimação pessoal’, ficará mantido um dos piores ‘pontos de estrangulamento’, que tanto retardavam a execução sob o antigo sistema. Aliás, ‘encontrar’ o réu, nesta etapa processual, máxime quando abonado e dispondo de facilidades de deslocamento, pode ser tarefa árdua, com precatórias itinerantes cruzando o país (e disso temos muitos exemplos na prática do foro). Conforme Araken de Assis, “qualquer medida tendente a introduzir intimação pessoal, ou providência análoga, harmoniza-se mal com as finalidades da lei” (Manual da Execução, RT, 11ª ed., 2008, p. 193).
Como escrevemos alhures, “no plano teórico, a intimação da sentença condenatória ao advogado do réu é o que basta a que o réu seja considerado como plenamente ciente da ordem de pagamento. No plano pragmático, a exigência representará uma ‘ressurreição’, sob outra roupagem, dos formalismos, demoras e percalços que a nova sistemática quis eliminar do mundo processual” (Cumprimento da Sentença Civil, Forense, 2007, pp. 54-55).
10. Vamos resumir nosso ponto de vista. Partamos da constatação de que, prolatada a sentença, são as partes dela necessariamente intimadas, e de tal intimação correrá o prazo para a interposição dos recursos cabíveis (CPC, art. 506). Com esta intimação, portanto, as partes (por seus advogados, bastantes procuradores em juízo) ficam cientes do inteiro teor da prestação jurisdicional, e dela não podem alegar ignorância.
Assim, o subsequente prazo de quinze dias (propositadamente um largo prazo, a fim de permitir e facilitar ao devedor o pagamento voluntário) passa automaticamente a fluir, nos exatos termos da lei, independentemente de quaisquer ‘novas’ intimações, a partir da data em que a sentença (ou o acórdão que a substitua - art. 512 do CPC) se torne exequível. Melhor: este prazo corre a partir da data em que a ordem do juiz, a cujo respeito (como exposto) nenhum dos sujeitos do processo pode em boa-fé alegar desconhecimento, se torne exigível ao réu, quer por haver transitado a sentença em julgado, quer porque da sentença (ou do acórdão) haja sido interposto recurso recebido sem efeito suspensivo.
Não assiste pois razão, data venia, àqueles que (quiçá ainda influenciados por idéias inerentes ao sistema pretérito), sustentam a necessidade de que o demandado seja ‘novamente’ intimado (pessoalmente, ou por intermédio de seu advogado), para que fique ‘em mora’ (?) e comece a fluir, só então, o prazo dos quinze dias para o voluntário cumprimento da sentença 9.
11. Vale notar, no azo, que a multa prevista no art. 475-J, caput, do CPC apresenta-se basicamente ‘penitencial’, portanto sem o caráter típico da astreinte: “induz ao pagamento, mas não tem essa finalidade especifica, e por isso é proporcional ao valor da obrigação de pagar (10% do montante da condenação)” (Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Teoria e Prática da Tutela Jurisdicional, Forense, 2008. p.173). Como escreveu Ronaldo Cramer, a multa é medida ‘punitiva’ ao réu condenado, ante sua impontualidade no cumprir a sentença: “Só o fato de a incidência da multa ser automática, pois ela decorre da lei e não da vontade do juiz, já revela o seu caráter punitivo, de apenar o réu que não paga, no prazo legal, a quantia a que foi condenado. Todavia, não dá para negar que toda a medida punitiva possui, indiretamente, um efeito de desestímulo, pois a previsão da pena tende a inibir a prática da conduta não querida pelo legislador” (Temas Atuais da Execução Civil - estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin, Saraiva, 2007, p. 764).
Conforme Yarshell, “a incidência da referida multa é automática e precede o requerimento do credor acompanhado da apresentação da memória do cálculo. Vale dizer: basta o decurso do prazo de quinze dias da condenação para que incida a multa de tal sorte que na memória - e consequentemente no mandado de penhora - já será incluída a penalidade, acrescida ao principal.....(....)......deve prevalecer a regra de que a decisão sujeita a recurso desprovido de efeito suspensivo produz todos seus efeitos” (Flávio Luiz Yarshell ‘et alii’, Execução Civil - novos perfis, RCS Editora, São Paulo, 2006, pp. 29-31). Explicita, ainda, que a multa “não é para o devedor que resiste à execução, mediante impugnação (outrora embargos do devedor), mas sim e simplesmente para o devedor que dá causa à execução porque não efetua o pagamento” (ibidem, p. 34).
Eminentes processualistas, todavia, divergem, considerando a multa como essencialmente ‘coercitiva’, e não ‘punitiva’. Para Cassio Scarpinella Bueno, a multa “tem clara natureza coercitiva”, visando incutir no espírito do devedor que as decisões jurisdicionais “devem ser cumpridas e acatadas de imediato, sem tergiversações, sem delongas, sem questionamentos, sem hesitações, na exata medida em que elas sejam eficazes, isto e, na exata medida em que elas surtam seus regulares efeitos” (coletânea Aspectos Polêmicos da Nova Execução - 3, RT, p. 132). Sublinhando que a multa exerce ‘pressão psicológica e financeira’ sobre devedor, característica das medidas de coerção, prossegue Luiz Guilherme Bondioli com a afirmação de que a mesma “tem a grande vantagem de independer de comunicação pessoal para a sua incidência concreta” (O Novo CPC - a terceira etapa da reforma, Saraiva, 2006, pp. 95-97).
Por tal motivo, vários doutrinadores admitem a possibilidade da ocorrência de circunstâncias ‘excludentes’ da sua imposição, tal como nos casos em que o réu não disponha de dinheiro disponível, mas apenas de “bens móveis ou imóveis de difícil alienação” (Luiz Rodrigues Wambier et alii, Breves Comentários...cit., p. 145), ou se não teve “tempo suficiente para transformar bens do seu patrimônio em dinheiro suficiente para pagamento do seu débito” (Marcelo Abelha, Manual de Execução Civil, Forense Universitária, 2006, p. 293-294). Também Guilherme Rizzo Amaral, para quem poderia ser afastada a multa “caso o devedor venha a comprovar, no curso do processo, a ausência de patrimônio apto a saldar o valor da condenação” (A Nova Execução, Forense, 2006, p. 124).
Reiteremos, todavia, nossa posição no sentido de que a multa, pelo sistema instituído pela Lei 11.232/05, incide independentemente das intenções ou possibilidades do executado, de sua boa ou má-fé, pois decorre ‘objetivamente’ do descumprimento da ‘ordem’ de pagamento contida na sentença; e apenas ficará sem efeito caso venha a ser julgado procedente o recurso interposto contra a sentença (execução provisória, com restituição das partes ao estado anterior - art. 475-0, III), ou se procedente a impugnação (art. 475-L) apresentada pelo executado.
Como escreveu Araken de Assis, “vencido o interregno de quinze dias, automaticamente incidirá a multa de 10% (dez por cento). Por tal motivo, constará da planilha que instruirá o requerimento executivo...(omissis)..... O objetivo da pena pecuniária consiste em tornar vantajoso o cumprimento espontâneo e, na contrapartida, onerosa a execução para o devedor recalcitrante” (Cumprimento da Sentença, Forense, 2006, nº 79, pp. 212-213).
Em favor de quem reverterá a multa? Pelo sistema, reverterá em favor do credor exequente, da pessoa prejudicada pela demora no pagamento. Quem pagará a multa? O devedor, como tal nomeado no título executivo sentencial. Tratando-se de débito de pessoa jurídica de direito privado, devedora é a pessoa jurídica, não seus presentantes ou órgãos (em certos casos é possível que a pessoa física incida na sanção do art. 14 do CPC, mas esta é ‘outra’ multa, não a prevista especificamente para o não cumprimento da sentença condenatória).
A multa prevista no art. 475-J não se aplica às execuções por título sentencial contra a Fazenda Pública, mesmo porque esta execução foge ao novo sistema e continua demandando a propositura de ação autônoma. Aliás, em sendo devedora a Fazenda, esta de qualquer forma não poderia pagar no prazo de quinze dias, eis que depende necessariamente da expedição de precatório, com o pagamento sujeito à observância da devida ordem cronológica (observemos as disposições peculiares para os créditos alimentares - enunciados 655 da Súmula do STF e 144 da Súmula do STJ, e para as obrigações de pequeno valor).
12. Vem sendo sustentada, outrossim, a impossibilidade de imposição da multa na execução provisória, e isso sob duas alegações:
a) pela preclusão lógica, pois não seria possível ao mesmo tempo interpor o recurso e efetuar o pagamento;
b) pela desistência tácita do recurso, caso o executado realize o pagamento (Bernardo Bastos Silveira, RePro, 155/216).
Dizem alguns comentaristas que o executado ficaria perante um ‘beco sem saída’, pois ou efetua o pagamento e ocorrerá a preclusão lógica, ou não paga e fica sujeito à multa; assim, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, este com a afirmação de que seria “absurdo exigir, nesta hipótese, que o devedor satisfizesse integralmente a obrigação (como exigido no caput do art. 475-J) para se livrar do pagamento da multa”, mesmo porque isso seria “incompatível com a vontade de recorrer já manifestada” (coletânea Nova Execução, Forense, 2006, p. 195).
Autores de nomeada sugerem, outrossim, a hipótese de o devedor, com a finalidade de evitar a multa, efetuar um pagamento ‘sob reserva’, prosseguindo contudo a execução provisória e ficando o executado submetido ao sistema ‘solve et repete’, alvitre este que Carlos Alberto Carmona rejeita, considerando-o ‘excessivo’ (A Nova Execução de Títulos Judiciais....cit., pp. 66-67).
Em nosso entendimento, todavia, e considerado todo o anteriormente exposto, sempre que ao recurso cabível a lei não conceda o efeito suspensivo, em tais casos a ‘ordem’ do juiz, contida na sentença condenatória, assume total exigibilidade a partir do momento em que o recurso haja sido recebido com efeito apenas devolutivo. O réu, embora recorrente, induvidosamente estará, desde então, sujeito à ‘ordem’ judicial para pagar dentro do prazo de quinze dias. E o pagamento, a nosso ver, por sua própria natureza não pode ser feito, em juízo, ‘sob reserva’.
O réu, no entanto, não fica diante de um ‘beco sem saída’, mas sim está diante de uma opção, de uma ‘encruzilhada legal’:
a) ou resolve ele cumprir a ‘ordem’ e efetuar o pagamento, e tendo efetuado o pagamento já não mais poderá recorrer;
b) ou o réu entende que lhe assistem bons e suficientes motivos para pleitear a reforma da sentença e, em consequência, ‘assume o risco’ de interpor o recurso mesmo ciente de que o mesmo não tem efeito suspensivo e de que, portanto, caso improcedente, irá pagar o débito acrescido da multa.
Assim sendo, ao ingressar com a execução provisória, o autor poderá (após transcorridos os quinze dias) exigir ao réu o principal e a multa, estando todavia sabedor de que, caso o recurso do executado venha a ser provido, ficará sem efeito a própria execução, ‘restituindo-se as partes ao estado anterior’, e ele exequente deverá ‘reparar os danos que o executado haja sofrido’ (CPC, art. 475-O, inc. I).
Em última análise, no decorrer do processo as partes assumem responsabilidades e riscos: ao interpor recurso ao qual não seja atribuído efeito suspensivo, o réu assume o risco de, ao final, pagar o débito acrescido da multa; ao requerer a execução provisória, o autor assume o risco de, se ao final for provido o recurso do réu, ter de indenizá-lo por todos os danos e prejuízos decorrentes da execução, pois promovida por sua ‘iniciativa, conta e responsabilidade’ (art. 475-O, inc. I).
Porto Alegre, julho de 2008
Athos GusmÃo Carneiro
Ministro aposentado do STJ. Presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Advogado.
- © 2009 - Carneiro e Alencar
- Rua Quintino Bocaiúva, 683, Conj. 203 / 204
- Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS
- Fones: 51 3330 6955 - Fax: 51 3330 3422