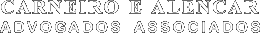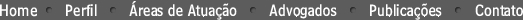DO 'CUMPRIMENTO DA SENTENÇA', CONFORME A LEI 11.232/2005. PARCIAL RETORNO AO MEDIEVALISMO? POR QUE NÃO ?
1. Para modernizar o processo de execução tornou-se necessário, mediante a Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, um parcial retorno aos tempos medievais, mediante a restauração do bom princípio de que sententia habet paratam executionem.
Não se trata de afirmação paradoxal, mas sim de simples constatação: a busca de um processo de execução 'moderno' e eficiente, que sirva de instrumento adequado e célere para o cumprimento das sentenças, impôs o afastamento do formalista, demorado e sofisticado sistema da execução através de uma ação autônoma, réplica da actio judicati do direito romano. E implicou parcial retorno à expedita execução per officium iudicis, do direito comum medieval.
Vale sublinhar que, como magnífica obra de arquitetura jurídica, o Código de 1973 pouco terá deixado a desejar. Todavia, não manteve o imprescindível contacto com as realidades do foro e da sociedade, como ressaltou Barbosa Moreira:
"O trabalho empreendido por espíritos agudíssimos levou a requintes de refinamento a técnica do direito processual e executou sobre fundações sólidas projetos arquitetônicos de impressionante majestade. Nem sempre conjurou, todavia, o risco inerente a todo labor do gênero, o deixar-se aprisionar na teia das abstrações e perder o contacto com a realidade cotidiana....(...)......Sente-se, porém, a necessidade de aplicar com maior eficácia à modelagem do real as ferramentas pacientemente temperadas e polidas pelo engenho dos estudiosos" (RePro, 31/199).
2. E a esta urgente 'modelagem do real', na expressão de Barbosa Moreira, dedica-se a nova lei. A sistemática de 'dois processos' sucessivos, prestigiada pelo Código Buzaid, conduzia a demoras e formalismos desnecessários, além de incompreensíveis aos jurisdicionados.
Assim é que, proposta uma ação condenatória, após decorridos meses e anos em busca da cognição exauriente (com contraditas, saneamento, instrução, perícia, sentença), o advogado por fim informava ao cliente sua vitória na demanda. Sim, fora vitorioso, mas não poderia exigir a prestação que lhe era devida, pois o vencido apelara, e a apelação de regra assume o duplo efeito. Os tempos correm, a apelação do réu é por fim rejeitada, recursos de natureza extraordinária são intentados e repelidos, e certo dia - mirabile dictu, o paciente autor recebe a grata notícia: a sentença a ele favorável havia transitado em julgado. Alvíssaras, pensou o demandante. Pensou mal. Para receber o 'bem da vida', cumpria fosse proposto um 'segundo processo', já agora visando o cumprimento da sentença, novo processo exigente de nova citação, com a possibilidade de um subseqüente contraditório através da ação incidental de embargos do devedor (propiciando instrução e sentença), e com o uso de meios executórios inadequados ao comércio moderno, tais como a hasta pública (um anacronismo na era eletrônica).
Sublinhando a absurdez dessa situação, Humberto Theodoro Júnior, em exaustivamente fundamentada tese de doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais (publicada sob o título 'A Execução de Sentença e a Garantia do Devido Processo Legal', Ed. Aide, 1987), sustentou a premente necessidade de retorno à simplicidade do processo sincrético. Menciona que Alcalá-Zamora combate o tecnicismo da dualidade, artificialmente criado no direito processual pelos sucessivos processos de conhecimento e de execução, sustentando ser mais adequado falar em 'fase' processual de conhecimento e de 'fase' processual de execução. Isso porque "a unidade da relação jurídica e da função processual se estende ao longo de todo o procedimento, em vez de romper-se em dado momento" (Proceso, autocomposión y autodefensa, UNAM, 2ª ed., 1970, nº 81, p. 149) ( ).
Lembrando esta tese, elaboramos dois esboços sugerindo reformas profundas do processo de execução. Tais esboços, após profícuos debates perante o Instituto Brasileiro de Direito Processual, deram por fim origem à Lei n. 11.232, quanto aos títulos judiciais, e a um projeto relativo aos títulos extrajudiciais ainda (março de 2006) em tramitação na Câmara dos Deputados.
Em sinopse, a Lei n. 11.232 consagra o abandono do sistema romano da actio judicati, com o retorno ao sistema medieval pelo qual a sentença habet paratam executionem.
3. Não será demasia façamos muito sumária recordação histórica. O processo civil romano, no período inicial das legis actiones e, após o século II A.C. (leis Ebucia e Julias), no período per formulas, previa a execução da sentença condenatória (sempre em quantia em dinheiro, como menciona Humberto Cuenca, Proceso Civil Romano, EJEA, 1957) não diretamente sobre o patrimônio do devedor (a propriedade dos cidadãos, em princípio, era direito absoluto, somente disponível com o consentimento do titular), mas sobre a pessoa do devedor (manus injectio, prevista na Lei das XII Tábuas). Inadimplente, era submetido à servidão, e se o débito não fosse pago poderia o devedor ser vendido como escravo (trans Tiberim, em terras etruscas, se cidadão romano fosse...).
A execução pessoal paulatinamente foi sendo substituída pela execução patrimonial, mediante a bonorum venditio, que implicava a pecha de infâmia ao devedor e transmitia ao adquirente a propriedade 'pretoriana' (não a propriedade civil) da totalidade dos bens, sob a ficção de 'sucessão universal'.
4. A execução dependia da propositura de nova demanda, a actio judicati, com a condenação do devedor em dobro, caso sua impugnação à sentença fosse rejeitada. As defesas de má-fé eram superadas (evitando-se a eternização de demandas) mediante comandos emitidos pelo pretor, dotado do poder de imperium (Liebman, Embargos do Executado, trad. port., Saraiva, 2ª ed., 1968, nº 4, p. 7) ( ).
Em suma, a transferência (pelo magistrado) dos bens ao credor, ou a quem assumisse a dívida, tinha como pressuposto sentença condenatória, proferida pelo judex, juiz privado, o qual compunha a lide com base na 'formula' redigida pelo pretor; no entanto o judex, simples cidadão, não possuía o imperium para obrigar ao cumprimento de seu julgado.
5. Mais tarde, já no Império, com a paulatina introdução da extraordinaria cognitio (e a eliminação da etapa processual apud judicem), a jurisdição concentrou-se na pessoa do magistrado; a sentença, como conseqüência, perdeu seu caráter arbitral para transformar-se em ato de comando estatal ( ). O juiz passou a dirigir o processo do início ao fim, como funcionário do Estado e representante do Imperador: "organiza a instância, examina as provas, profere o julgamento, executa a sentença" (Paulo Henrique dos Santos Lucon, Embargos à Execução, Saraiva, 1996, nº 8, p. 25).
No início do Império passou a ser admitida, em favor de 'pessoas ilustres' (as clarae personae, tais como os senadores...), a denominada bonorum distractio, com a possibilidade de apreensão e venda apenas dos bens suficientes a satisfazer o crédito, sistema este mais tarde estendido a todos os cidadãos; e igualmente surge a bonorum cessio, pela qual o devedor insolvente evitava a marca da infâmia cedendo a totalidade de seus bens aos credores.
Com o pignus in causa iudicati captum, a evolução por fim atingiu estágio semelhante aos procedimentos atuais, com a expropriação de suficiente parcela dos bens do devedor.
Mas a actio iudicati continuou sendo o meio de pleitear-se a execução de sentença, mesmo na época imperial, embora o processo todo houvesse passado a desenvolver-se perante o magistrado estatal. O direito romano não concebeu a sentença, em si, como título executivo.
6. A partir do terceiro século, a progressiva invasão, ou ocupação de terras do Império por tribos germânicas (francos, visigodos, ostrogodos, longobardos, saxônios, vândalos) culminou com o desaparecimento do Império Romano do Ocidente ( ). No plano do direito, ocorreu em conseqüência o choque entre duas diferentes mentalidades: entre as populações romanas e os povos romanizados subjugados, persistiu a idéia do respeito ao contraditório; entre os povos germânicos manteve-se dominante a penhora privada, a rude 'justiça' de mão própria, com a defesa do demandado apenas posteriormente e em caráter incidental (José Alberto dos Reis, Processo de Execução, Coimbra Ed., 1943, v. I, nº 24; Liebman, Processo de Execução, Saraiva, 2ª ed., 1963, nº 6, pp. 9-10).
7. Com o renascimento dos estudos de direito romano (sec. XI), os juristas da Idade Média (sobretudo pelo magistério de Martino de Fano, sec. XIII), chegaram a um eficiente e útil compromisso entre as duas correntes: da herança romana, mantiveram o princípio da necessária precedência da cognição e da sentença condenatória; mas afastaram (salvo casos excepcionais) a actio iudicati, possibilitando-se a execução da sentença simplesmente per officium iudicis, sem necessidade de uma nova demanda (Moniz de Aragão, Embargos Infringentes, Saraiva, 1965, ns. 32 a 35; Paulo dos Santos Lucon, ob. cit., nº 13) ( ).
Isso significou, no magistério de Liebman, atribuir à sentença condenatória uma "eficácia nova, desconhecida em épocas anteriores, como é a de ser por si só suficiente para permitir a execução, sem necessidade de nova ação e novo contraditório: sententia habet paratam executionem (Processo de Execução cit., p. 10).
Verificou-se, outrossim, o renascimento do comércio e, destarte, a necessidade de os mercadores obterem títulos que permitissem a execução de seus créditos sem as delongas e os percalços de um processo sob rito ordinário. Invocando como supedâneo o prístino princípio romano de que a confissão em juízo autorizava desde logo a execução - confessus in jure pro condemnato habetur, atribuiu-se a determinados instrumentos (os instrumenta guarentigiata italianos, lavrados perante tabeliães; as lettres obligatoires faites e passées sous Scel Royal, na França) eficácia semelhante à sentença, mais tarde estendida às letras de câmbio e aos créditos constantes de outros documentos.
8. Aconteceu, todavia, que por influência do direito francês operou-se uma verdadeira inversão de valores, e o padrão executivo passou a ser não mais a sentença, mas as lettres obligatoires: "até que, em determinado momento, todo o processo executivo se unificou e, então, já não se dizia mais que as lettres obligatoires se equiparavam à sentença, e sim que esta se equiparava àquelas" (Humberto Theodoro Júnior, A Execução de Sentença..., cit., p. 145). Desapareceu, assim, a execução per officium iudicis e reinstalou-se o sistema romano de só se poder chegar à execução forçada através nova relação processual (idem, ibidem).
Esse sistema passou ao direito europeu continental, com a diferença de que em muitos países a execução se inicia em caráter extrajudicial.
9. No direito brasileiro anterior à Lei 11.232/05, portanto, o credor insatisfeito (obrigações de pagar) era obrigado a bater duas vezes, como já foi dito, às portas da Justiça para cobrar um só e mesmo crédito: primeiro, pelo processo de conhecimento, obtinha o acertamento de seu crédito; depois, com base na sentença e mediante um novo processo, chegava aos atos executórios.
No dizer de Theodoro Júnior, cuidava-se então "de um engenhoso e complexo sistema jurídico-procedimental que, sob roupagem moderna, nada mais faz do que reeditar um sistema binário similar ao do velho processo romano assentado sobre a dupla necessidade de sentença condenatória e actio iudicati"....(omissis)........."a simplificação a que procedera o direito comum medieval, eliminando a actio iudicati, foi completamente abandonada. A execução não é mais ato de exercício do ofício do juiz; é, isto sim, uma ação que corresponde a um direito novo do autor, nascido da sentença e não da relação material disputada no processo primitivo. No Brasil, a dicotomia é agravada pela excessiva judicialização do procedimento de execução da sentença: qualquer que seja o valor da condenação, qualquer que seja a natureza dos bens a serem expropriado para dar lugar à sanção executiva, a atividade procedimental é sempre precedida da instauração de um novo e completo processo entre as partes, sob direção do juiz" (ob. cit., p.149-150).
Exatamente esta incongruência as leis de reforma do CPC vieram a resgatar:
a) para as obrigações de fazer e não fazer, mediante o art. 461 do CPC, na redação da Lei nº 8.952/94;
b) para as obrigações de entrega de coisa, pelo art. 461-A, introduzido pela Lei nº 10.444/02;
c) e agora, para as obrigações de pagamento em dinheiro, pela sistemática da Lei nº 11.232/05 (em 'vacatio legis' até 22 de junho de 2006).
Passemos, pois, a uma análise, por certo que ainda superficial e incompleta, da nova sistemática.
11. De início, a "liquidação de sentença". A respeito, dispõe o artigo 3º da Lei 11.232 da seguinte forma:
Art.3º. O Título VIII do Livro I da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 475-A, 475-B, 475-C, 475-D, 475-E, 475-F, 475-G e 475-H, compondo o Capítulo IX, "Da Liquidação da Sentença’.
Impende ponderar que a liquidação de sentença apresentava-se, no anterior sistema do Código, como uma 'ação incidental', iniciada com a citação da parte ré, citação esta que a partir da Lei nº 8.898/94 passara a ser feita na pessoa de seu advogado, constituído nos autos ( ).
Na anterior sistemática processual cuidava-se - a liquidação - de um 'outro' processo, buscando a apuração do 'quantum debeatur' ou a identificação da coisa devida: "Seu caráter é típico de um processo de conhecimento preparatório de uma futura execução forçada" (Humberto Theodoro Júnior, 'Curso de Direito Processual Civil', Forense, v. II, 31ª ed., nº 712, p. 81), processo este que o Código intercalou no Livro dedicado à execução, não obstante, pelo objetivo de 'complementação' da sentença de condenação, devesse naturalmente integrar o processo de conhecimento.
A solução ora adotada visou, dentro de melhor técnica, efetivar tal integração, com a criação de um novo capítulo (Capítulo IX) dentro do Título VIII do Livro I, e a transposição, para ele, dos atuais artigos relativos à Liquidação de Sentença (renumerados com a utilização do número, seguido de letras, do último artigo do Capítulo VIII). A liquidação, como já referido em antigo aresto do Superior Tribunal de Justiça, por sua 4ª Turma, "não integra o processo executivo, mas o antecede, constituindo procedimento complementar do processo de conhecimento, para tornar líquido o título judicial (CPC, arts. 586 e 618)" (REsp. nº 586, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 20.11.1990, DJU 18.02.1991, p.1.041) ( ).
Portanto, em sendo a sentença ilíquida (total ou parcialmente), o processo de conhecimento prosseguirá para a apuração do 'quantum debeatur', de forma a que a condenação possa tornar-se exeqüível.
12. O antigo art. 605 do CPC, relativo à execução 'às avessas' promovida pelo próprio devedor, foi revogado, bem como o correspondente art. 570, por desnecessários (art. 9º da nova lei). Com efeito, se a parte condenada realmente deseja efetivar o pagamento, nada a impede de efetuar o depósito da quantia que considere devida. Concordando o credor, o processo será extinto, a teor do art. 794, II; caso discorde, por entender insuficiente a quantia depositada, ainda assim poderá o credor levantar de imediato o valor ofertado - aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 899, § 1º, e apurar o pretendido saldo através o procedimento de liquidação de sentença.
Foi igualmente revogado o atual art. 611, pelo qual "julgada a liquidação, a parte promoverá a execução, citando pessoalmente o devedor". Tal norma apresenta-se incompatível com a nova sistemática, pela qual a 'execução' - já agora 'cumprimento' da sentença, far-se-á na mesma relação jurídica processual, independendo, pois, de qualquer chamamento do demandado a fim de integrá-la.
13. Prossigamos. Os 'antigos' arts. 603 e 609 estavam assim redigidos:
"Art. 603. Procede-se à liquidação, quando a sentença não determinar o valor ou não individuar o objeto da condenação.
Parágrafo único - A citação do réu, na liquidação por arbitramento e na liquidação por artigos, far-se-á na pessoa de seu advogado, constituído nos autos."
"Art. 609. Observar-se-á, na liquidação por artigos, o procedimento comum regulado no Livro I deste Código."
Pela novel Lei 11.232, as citadas normas adotaram a seguinte redação:
"Art. 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação.
§ 1º. Do requerimento de liquidação de sentença será a parte intimada, na pessoa de seu advogado.
§ 2º.......................................................................;
§ 3º. .................................................................. ."
"Art. 475- F. Na liquidação por artigos observar-se-á, no que couber, o procedimento comum (art. 272)."
Tendo em vista que o 'procedimento' destinado à liquidação de sentença perdeu sua natureza de 'ação' incidental, pois passou a constituir uma sucessiva fase na entrega (no processo de conhecimento e em primeira instância) da completa prestação jurisdicional, então necessariamente cumpria substituir a 'citação' - que é o chamamento para se defender (art. 213), pela simples 'intimação' do réu, e isso pela singela razão de que já foi ele citado ao início do processo.
Note-se, outrossim, que o 'caput' do artigo omite a anterior referência alusiva à individuação do 'objeto da condenação'. Com efeito, as sentenças relativas à 'entrega de bens' atualmente são cumpridas, e os bens identificados, conforme as regras do artigo 461-A do Código, independente de procedimento de liquidação.
Quanto ao art. 475-F, correspondente ao atual art. 609, a alteração maior consistiu no acréscimo da expressão 'no que couber', e isso porque nem sempre as normas do procedimento comum (ordinário ou sumário) serão compatíveis com as finalidades da liquidação de sentença. Por exemplo, em liquidação de sentença não se admite a reconvenção, nem a exceção de incompetência de foro. E restou cancelada, por óbvio, a remissão ao ' Livro I deste Código'.
14. Novidades na liquidação de sentença, são as normas constantes dos parágrafos 2º e 3º do art. 475-A:
"Art. 475-A. .......................................................
§ 2º. A liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com copias das peças processuais pertinentes.
§ 3º. Nos processos sob procedimento comum sumário, referidos no art. 275, inciso II, alíneas 'd' e 'e' desta Lei, é defesa a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano, a seu prudente critério, o valor devido" ( ).
Ambas as regras revelam caráter pragmático, visando a celeridade e efetividade do processo. Pelo § 2º, embora pendente recurso, ao credor é facultado requerer desde logo a liquidação (portanto, liquidação 'provisória'), assumindo o risco de que ao recurso seja dado provimento e, pois, venha a ser cancelada a condenação. A norma é útil, máxime tendo em vista que em alguns Estados (como, v.g., São Paulo) estende-se por anos a dilação usual para o julgamento de uma apelação. Considerando que os autos devem ser remetidos ao juízo ad quem, a liquidação processar-se-á, então, em autos apartados e perante o juízo de origem.
Pelo § 2º, o juiz deverá proferir sentença sempre líquida em se tratando de ações, sob rito sumário, de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículo de via terrestre (demandas comuns, em geral de cognição menos complexa, e que por óbvios motivos necessitam breve solução), e de pretensão ao recebimento de seguro de cobertura de danos causados em tais acidentes. Assim, antes de ajuizar tais demandas, convirá ao autor munir-se, desde logo, de provas não só relativas ao 'an debeatur', mas também alusivas ao montante de suas pretensões (de regra, tais provas não serão difíceis - fotos do acidente, orçamentos de profissionais especializados em consertos de veículos, laudo descritivo de lesões pessoais etc.).
A nova lei contribuirá, destarte, para aquele propósito já lembrado pelo saudoso Alcides de Mendonça Lima:
"...em princípio, na verdade, tudo que pudesse ser provado no processo de conhecimento o juiz deveria ordenar que fosse feito, a fim de a sentença ser líquida e certa, evitando a liquidação, sempre complexa, onerosa e demorada, podendo durar mais do que a própria ação de onde provém"( Coment. ao CPC, Forense, v. VI, 6ª. ed., 1990, nº 1.294) ( ).
Não se poderia dizer melhor, ressaltando a relevância do interesse na mais breve e eficaz composição do litígio e na economia processual.
Aliás, o eminente Lopes da Costa chegou a afirmar que "tudo isso está a evidenciar que deveríamos repudiar de vez o tal pedido genérico. E acabar com as tais liquidações" (Direito Processual Civil Brasileiro, t. IV, 1947, n. 50, p. 41). A tanto, todavia, não poderemos ir, pois em certos casos, de ações aparentemente temerárias ou de pedidos (não raros) de duvidosa procedência, efetuar desde logo a liquidação do (eventual) quantum debeatur, mesmo sem uma razoável probabilidade de que a sentença venha a ser condenatória, implicará conduta conducente a demorado e infrutífero esforço processual.
15. No alusivo à questão da recorribilidade do provimento judicial que, na etapa de liquidação de sentença, vem a fixar o quantum debeatur, o art. 475-H é do seguinte teor:
"Art. 475-H. Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento".
Esta norma objetivou impedir dúvidas a respeito da natureza - de certa forma tornada polêmica - do provimento pelo qual o juiz busca encerrar a fase (eventual) de liquidação da sentença.
Por pragmática opção legislativa, o provimento foi definido como 'decisão interlocutória', a qual abre caminho ao cumprimento da sentença, fixando o valor da condenação. A impugnação mediante agravo simplifica os trâmites recursais, e não impede, em princípio, o imediato cumprimento da sentença condenatória mediante execução provisória.
Como disse Leonardo Greco, aludindo à incidência do agravo por instrumento tanto contra a decisão da liquidação, como relativamente à decisão proferida no incidente de impugnação: “está correta a opção do legislador”. Essas decisões têm tal relevância no conteúdo dos atos subseqüentes, que sua impugnação pela via recursal deve ser imediata e resolvida com a maior brevidade” (revista Dialética de Direito Processual).
16. Ainda no relativo à etapa de 'liquidação de sentença', nota-se que a Lei 11.232, a teor do art. 475-B, desdobrou os anteriores dois parágrafos do antigo art. 604, trazendo maior clareza ao texto. Salientemos que, no concernente à resistência de um terceiro em apresentar dados em seu poder (necessários à apresentação pelo exeqüente de sua memória do cálculo), a expressão "a resistência do terceiro será considerada desobediência" foi substituída (mediante emenda aprovada no Senado) pela expressão "e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no art. 362 " ( ).
17. Passemos ao capítulo mais significativo da reforma, o cumprimento da sentença, com a abolição da actio iudicati (ou melhor, de um sucessivo processo autônomo) como instrumento processual indispensável à execução forçada das obrigações de pagar.
Esta parte se expressa no art. 4º da Lei n° 11.232, a saber:
Art. 4º. O Título VIII do Livro I da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos 475-I, 475-J, 475-L,475-M, 475-N, 475-), 475-P, 475-Q e 475-R, compondo o Capítulo X - "DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA".
Pela sistemática adotada, todas as normas diretamente voltadas à efetivação do comando sentencial passam a integrar o Livro I, inserindo-se no processo de conhecimento; para abrigá-las, é aberto um novo Capítulo, numerado como Capítulo X, eis que antecedido pelos enunciados pertinentes à liquidação da sentença, reunidos sob o Capítulo IX.
Quanto à epígrafe "Do cumprimento da sentença", usada ao invés da habitual expressão "Da execução da sentença", explica-se: as obrigações de 'fazer e de não fazer', e as obrigações de 'entrega de coisa', independem de 'execução' no sentido estrito e tradicional do termo, pois o mandamento sentencial em favor do demandante será cumprido simplesmente pela expedição de 'ordem' à parte obrigada (eficácia mandamental) ou de 'mandado' a servidor da Justiça ou a pessoa a este equiparada (eficácia executiva).
18. Pelo novo ordenamento, destarte, a sentença condenatória não terá apenas eficácia declaratória - no afirmar a existência da relação jurídica que impõe ao réu uma prestação - e eficácia constitutiva - pois a sentença é sempre uma 'novidade' no plano jurídico (apresenta-se como um 'título executivo', antes inexistente). A sentença condenatória, pela Lei 11.232, passou a ser também de prevalecente eficácia executiva, ou seja, autoriza o emprego imediato dos meios executivos adequados à efetiva 'satisfação' do credor, sem que a parte vencedora necessite ajuizar nenhum outro processo, sucessivo e autônomo.
Aplicar-se-á sempre, doravante, aquele 'sincretismo' entre processo de conhecimento e (nele integrados) os subseqüentes procedimentos de cumprimento da sentença, que o direito positivo anterior às reformas só autorizava em casos limitados: ações de despejo, possessórias de força nova, mandados de segurança e poucos outros casos mais.
A adoção da epígrafe "Do cumprimento da sentença" vem a proclamar, de modo expressivo, a meta desta última etapa do processo de conhecimento: busca-se a efetivação da sentença condenatória, efetivação que resultará na entrega ao demandante (plano dos fatos) do bem da vida a que fora declarado com direito. Assim, a sentença de condenação conduzirá desde logo (tanto quanto no mundo dos fatos apresentar-se possível) à 'satisfatividade' de que já se revestem, por sua natureza e em caráter imediato, as sentenças meramente declaratórias e as sentenças (de procedência) constitutivas.
19. Passemos, agora, à análise das normas destinadas ao cumprimento da sentença, as quais em boa parte mantêm, com as devidas adaptações, regras antes inseridas no Livro II para a 'execução' dos títulos judiciais (ou a estes equiparados).
Façamos o confronto:
Normas constantes do CPC:
"Art. 586. A execução para cobrança de crédito, fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível.
§ 1º. Quando o titulo executivo for sentença, que contenha condenação genérica, proceder-se-á primeira à sua liquidação.
§ 2º. Quando na sentença há uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e a liquidação desta".
"Art. 587. A execução é definitiva, quando fundada em sentença transitada em julgado ou em título extrajudicial; é provisória, quando a sentença for impugnada mediante recurso, recebido só no efeito devolutivo" ( ).
A matéria (ressalvada a execução dos títulos extrajudiciais, cuja regime mantém-se no Livro II), passou a ser regulada, no alusivo ao cumprimento da sentença, da seguinte forma:
" Art. 475 - I. O cumprimento da sentença far-se-á conforme os artigos 461 e 461-A desta Lei ou, tratando-se de obrigação por quantia certa, por execução nos termos dos demais artigos deste Capítulo.
"1º. É definitiva a execução da sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo.
§2º. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta."
Como referido em lei, ao proferir a sentença de procedência, ordenando ao réu o cumprimento de obrigação de fazer ou de não-fazer (de abster-se, de tolerar), o juiz, a teor do art. 461, concederá "a tutela específica da obrigação", cabendo-lhe determinar "providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento".
De outra parte, ao proferir sentença de procedência que determine ao réu a entrega de coisa, o juiz, nos termos do art. 461-A (aditado ao CPC pela Lei nº 10.444/02), fixar-lhe-á prazo para o cumprimento do comando sentencial; não cumprido, será expedido de imediato, em favor da parte autora, mandado de busca e apreensão, se bem móvel, ou mandado de imissão na posse, se bem imóvel.
20. Todavia, em se cuidando de obrigação de pagar, os meios disponíveis a um 'imediato' adimplemento forçado revelam-se inadequados, dada a necessidade de expropriar bens do patrimônio do devedor a fim de, pela sua alienação, obter recursos financeiros que permitam a satisfação da dívida.
Nestes casos, o cumprimento da sentença far-se-á mediante 'execução' (mantida, embora em sede de cumprimento de sentença, a tradicional denominação), observados, no que couber, as regras e os procedimentos pertinentes ao processo de execução (aqui, sim, 'processo de execução' propriamente dito) de título executivo extrajudicial.
No alusivo ao § 1º, é mantido, em termos, o sistema previsto no art. 587 relativamente à 'execução' de sentença, que será definitiva em casos de sentença transitada em julgado, ou provisória quando se cuidar de sentença impugnada por recurso recebido no efeito apenas devolutivo (quanto aos títulos executivos extrajudiciais, o tema é versado no art. 587, Livro II, a ser reformulado).
O art. 475-I, § 2º, corresponderá ao antigo art. 586, § 2º, apenas com a explicitação de que a parcial liquidação de sentença far-se-á em autos apartados, a fim de que o procedimento liquidatório não venha prejudicar o imediato andamento da execução da parte líquida.
21. Prosseguindo, passemos à execução da sentença mais freqüente na prática forense, ou seja, a sentença condenatória decorrente de obrigação de pagar.
Antes da lei ora em exame, a execução de sentença (como dos títulos extrajudiciais) iniciava-se pela citação do devedor, nos termos dos arts. 652 e 659, a saber:
"Art. 652. O devedor será citado para, no prazo de vinte e quatro (24) horas, pagar ou nomear bens à penhora.
..........................................................................."
"Art. 659. Se o devedor não pagar, nem fizer nomeação válida, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios.
..........................................................................."
Neste passo, a Lei n. 11.232 operou, quanto ao cumprimento das sentenças de pagar, substanciais inovações:
"Art. 475 - J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614,inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.
..................................................................."
Mediante este artigo é concretizada a nova sistemática, de ação 'sincrética' (conhecimento + execução), ficando dotada de eficácia executiva a sentença de procedência, nos casos de condenação ao pagamento de quantia líquida (valor já fixado na sentença de procedência, ou avaliado em procedimento de liquidação por arbitramento ou por artigos).
Com isso, melhor se alcançará o ideal de eficiência do processo, pois "o que o autor mediante o processo pretende é que seja declarado titular de um direito subjetivo e, sendo caso, que esse direito se realize pela execução forçada" (Alfredo de Araújo Lopes da Costa, Direito Processual Civil Brasileiro, Forense, 2ª ed., 1959, v. I, n. 72).
22. E, com efeito, na busca de efetiva realização do direito, com alteração do mundo dos fatos, não haverá
"razão, no plano lógico, para continuar a considerar, nas ações condenatórias, a força executória como diferida, se nas ações especiais a execução pode ser admitida como parte integrante essencial da própria ação originária. Nossa proposição é que, em se abandonando velhas e injustificáveis tradições romanísticas, toda e qualquer pretensão condenatória possa ser examinada e atendida dentro de um único processo, de sorte que o ato final de satisfação do direito do autor não venha a se transformar numa nova e injustificável ação, como ocorre atualmente em nosso processo civil" (Humberto Theodoro Júnior, A Execução de Sentença e a Garantia do Devido Processo Legal, Ed. Aide, 1987, p. 239).
E também no plano prático não há razão alguma para as duas ações sucessivas, esse "mecanismo complicado e artificial, engendrado apenas por apego às tradições vetustas do romanismo", e que muito dificulta e atrasa a prestação jurisdicional, porquanto "a necessidade de propor uma nova ação para dar cumprimento à condenação provoca uma longa paralisia na atividade jurisdicional, entre a sentença e sua execução, além de ensejar oportunidade a múltiplos expedientes de embaraço à atividade judicial aos devedores maliciosos e recalcitrantes" ( idem, ibidem, p. 250).
23. Assim, na sentença condenatória por quantia líquida (ou na decisão de liquidação de sentença), a lei alerta para o 'tempus iudicati' de quinze dias, concedido para que o devedor cumpra voluntariamente sua obrigação. Tal prazo passa automaticamente a fluir, independente de qualquer intimação, da data em que a sentença (ou o acórdão, CPC art. 512) se torne exeqüível, quer por haver transitado em julgado, quer porque interposto recurso sem efeito suspensivo.
Se o devedor não paga, porque não quer ou porque não pode satisfazer seu débito, a atual citação "para, no prazo de 24 horas, pagar ou nomear bens à penhora", é substituída pela expedição, desde logo, de mandado de penhora e de avaliação, a requerimento do credor ( guarda-se o princípio dispositivo, cuja observância é conveniente pois o credor pode, inclusive, não ter interesse na imediata constrição de bens do devedor).
Foi cancelada, como vemos, a atual previsão de 'nomeação de bens à penhora' pelo devedor, e instituída a penhora e avaliação de bens a ser procedida imediatamente pelo meirinho.
A multa de dez por cento, prevista no texto legal, incide de modo automático caso o devedor não efetue o pagamento no prazo concedido em lei. Visa, evidentemente, compeli-lo ao pronto adimplemento de suas obrigações no plano do direito material, desestimulando as usuais demoras ‘para ganhar tempo’. Assim, o tardio cumprimento da sentença, ou eventuais posteriores cauções, não livram o devedor da multa já incidente (em sentido contrário, Leonardo Greco, Dialética cit., 36/76-77).
24. Passemos aos parágrafos do aludido artigo:
"Art.475-J. .......................................................
Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias;
............................................................................."
Pelo regime do CPC, art. 669 (agora válido somente para os títulos extrajudiciais), uma fez feita a penhora, o devedor é intimado "para embargar a execução no prazo de dez dias".
Esta intimação do devedor, por vezes mui difícil na prática forense (máxime cuidando-se de pessoa 'importante', em constantes viagens e domicílio plural ...), é bastante facilitada no sistema da Lei nº 11.232, art. 475-J, parágrafo primeiro, porquanto será realizada, preferencialmente, na pessoa do advogado, quer pela publicação da nota no órgão oficial, quer diretamente ao advogado (pessoalmente ou pela via postal); apenas em não havendo nos autos advogado constituído, a intimação deverá ser procedida pessoalmente ao devedor ou ao seu representante legal (quando incapaz), ou ao presentante ou órgão de direção (casos de pessoa jurídica), utilizando-se para a intimação tanto o mandado ao meirinho, como o correio (diga-se ser um tanto imprecisa a redação do dispositivo).
O mesmo parágrafo dispõe sobre a faculdade de, intimado, o devedor oferecer impugnação (não mais embargos do devedor), querendo, no prazo de quinze dias (como evidente, é supérfluo o gerúndio 'querendo', constante da parte final do parágrafo).
Conveniente explicitar que a 'defesa' do executado, mediante o procedimento incidental de impugnação, pressupõe a penhora e avaliação de bens, ou seja, a segurança do juízo, mesmo porque uma das questões passíveis de exame, em tal procedimento, é o da 'penhora incorreta ou avaliação errônea' ( ). Antes de intimado da penhora e avaliação, aliás, o executado sequer sabe (pelo menos processualmente) que os atos executórios tiveram início.
Pelo parágrafo segundo, é prevista a possibilidade de o Oficial de Justiça (que passa a ser também 'avaliador') não dispor de conhecimentos suficientes para proceder à avaliação de determinados bens (v.g., obras de arte, máquinas ou instrumentos sofisticados, ações de empresas etc.). No auto de penhora dirá, então, sobre sua dificuldade, e o magistrado nomeará avaliador especializado, com prazo breve para a apresentação de laudo.
Como já foi dito, eventual contradita ao laudo de avaliação (quer subscrito pelo meirinho, quer por avaliador 'ad hoc') far-se-á no procedimento incidental de impugnação (art. 475-L, III). Caso o magistrado entenda que a impugnação reveste-se de verossimilhança, nomeará novo perito (ou, em casos excepcionais, até mesmo mais de um perito).
25. O novo sistema aboliu, pois, o instituto da 'nomeação de bens pelo devedor', a qual, como sabido pelos operadores do direito, revelou-se fonte de inúmeros percalços (indicação de bens sem liquidez, ou situados em lugar longínquo, ou de propriedade questionada etc.), capazes de muito empecer e procrastinar o andamento das execuções.
É assim expressamente previsto, no parágrafo terceiro do art. 475-L, a indicação pelo exeqüente (como aliás já comum na prática do foro), ao requerer o cumprimento da sentença, dos bens a serem penhorados. Naturalmente, o Oficial de Justiça observará, sempre que possível, a ordem prevista no art. 655, e ao executado é resguardada a possibilidade (inerente ao contraditório) de argüir a inobservância de tal norma da lei processual.
No parágrafo quarto do mesmo artigo é expressamente disposto que a multa, prevista no percentual de dez por cento sobre o valor do débito (caput do artigo), nos casos de pagamento parcial do débito durante o tempus iudicati deva incidir apenas sobre o montante não pago. É norma de equidade, aliás decorrente do propósito que motivou a instituição de tal gravame.
Note-se: se o pagamento de parte do débito ocorrer após o término do prazo dos quinze dias, não ocorrerá a diminuição da multa, salvo, naturalmente, se o credor, visando estimular um pagamento parcial, concordar em deferir tal vantagem ao devedor.
Por fim, pelo parágrafo quinto, o juiz mandará arquivar (administrativamente) o processo caso o credor não requeira, no prazo de seis meses, o cumprimento da sentença (presume-se, então, que o pagamento já tenha sido efetuado em mãos do credor, ou que este verificou a total insolvência do devedor, ou resolveu conceder-lhe maior prazo para adimplir etc.). Não teria sentido manter o processo avolumando a relação das causas 'pendentes', com prejuízo à veracidade das estatísticas.
A pedido da parte autora (v.g., soube de bens no patrimônio do devedor, tido por insolvente), o processo será desarquivado.
26. Da impugnação aos atos executivos. Como já se mencionou, e tendo inclusive em vista que o cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de quantia passou a ser uma fase do processo de conhecimento (cujo objeto foi ampliado), não mais assiste ao devedor a possibilidade de defender-se através uma 'ação' de embargos do devedor (com a natureza de 'ação de conhecimento' intercalada), mas sim mediante simples impugnação aos atos executórios, isto é, mediante uma atividade meramente incidental, sem a instauração de 'nova' relação jurídica processual. Aliás, se o cumprimento da sentença não mais se constitui em processo autônomo, não se compreenderia que a contradita a tal cumprimento se fizesse em ação autônoma.
Os motivos da contradita continuam sujeitos às limitações decorrentes da amplitude da matéria já apreciada na sentença condenatória, proferida após cognição exauriente. Conforme os autores, dividem-se as questões oponíveis em oposição de forma e oposição de mérito, a teor de seu conteúdo (ver Araken de Assis, Manual da Execução, RT, 9ª ed., 2005, nº 485).
Evidente, ainda, que apresentada impugnação terá o exeqüente prazo idêntico – de quinze dias – para apresentar resposta, seguindo-se sumária instrução, se necessária.
27. Permanecem, em linhas gerais, com alguns ajustes de redação, os fundamentos tradicionais da contradita aos atos executórios, e que constavam do 'antigo' art. 741 (que agora passou a reger os embargos em execuções contra a Fazenda Pública).
Em primeiro lugar, inciso I, a nulidade da sentença proferida à revelia do réu, nos casos de falta ou de nulidade da citação (= não se angularizou a relação processual), em que a contradita assume, em última análise, a feição da vetusta querela nullitatis insanabilis (Adroaldo Furtado Fabrício, revista AJURIS, 42/7).
Permanecem - incisos II e IV, as hipóteses de inexigibilidade do título (esta com o acréscimo decorrente do § 1º, alusivo aos casos de sentença fundada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal) ( ) e de ilegitimidade das partes ( ).
Não mais são previstas as hipóteses de 'cumulação indevida de execuções' e de nulidade desta 'até a penhora', incompatíveis com a nova sistemática.
A contradita por 'excesso de execução' é mantida - inciso V, sendo o caso mais comum aquele em que o credor postula quantia superior à resultante da sentença (parcelas 'supostamente' decorrentes da sentença, como v.g. certos ônus excessivos em contratos bancários).
É mantida, igualmente - inciso VI, a previsão da contradita pela superveniência de causas impeditivas, modificativas ou extintivas da própria obrigação, dês que supervenientes à sentença (se anteriores à sentença, a matéria necessariamente é considerada abrangida pelo decisório).
Não mais se inclui expressamente como matéria de impugnação a 'incompetência do juízo de execução', nem a 'suspeição ou impedimento do juiz' (antigo art. 741, inciso VII). Com efeito, a incompetência relativa deve ser alegada ao início do processo (art. 112), e não tendo sido suscitada ter-se-á operado a prorrogação de competência do juízo. Em se cuidando de incompetência absoluta, vemos duas opções: a) considerar que a falta de competência do juiz terá sido encoberta pelo trânsito da sentença em julgado, cabendo à parte prejudicada o uso de ação rescisória; b) entender, em solução quiçá a mais adequada, que a incompetência absoluta pode ser declarada em qualquer momento do processo e, pois, também na ocasião da impugnação aos atos executórios.
E a suspeição e o impedimento devem ser argüidos nos termos dos arts. 304 e ss. do CPC, não se inserindo, de regra, como matéria da impugnação aos atos executórios.
Lembremos, no azo, que a nulidade da sentença arbitral pode ser argüida não só em ação autônoma como também em impugnação ao cumprimento de título judicial, consoante o art. 33, § 3º, da Lei 9.307/96 - Lei da Arbitragem.
28. Passemos aos parágrafos do art. 475-L. O parágrafo primeiro diz respeito à momentosa questão da sentença 'inconstitucional', abrangida no tema maior, tão versado ultimamente pela doutrina, da 'relativização da coisa julgada'.
A Medida Provisória nº 2.180, de 24.8.2001 ('estabilizada' pela Emenda Constitucional nº 32/2001, art. 2º), aditou, como parágrafo do antigo art. 741, norma do teor seguinte:
"Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o titulo judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal".
O anteprojeto encaminhado ao Executivo pelo IBDP era no sentido de que a eiva de inconstitucionalidade, para efeito de retirar a eficácia do título judicial, deveria ter sido declarada pelo Pretório Excelso em 'ação direta de inconstitucionalidade', ou seja, pelo controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga omnes (Gilmar Ferreira Mendes, Jurisdição Constitucional, Saraiva, 1996, p. 260). Manifestou críticas, a esse respeito, mestre Humberto Theodoro Júnior, o qual considerou bastante ser a sentença 'contrária a disposição da Constituição ou estar fundada em lei ou ato normativo inconstitucional' (estudo publicado em 'Doutrina', coletânea comemorativa dos 15 anos do Superior Tribunal de Justiça, ed. Brasília Jurídica, 2005). Objetamos a tal orientação, suscitando a inconveniência de permitir, nesta etapa processual, uma renovada e ampla querela sobre a controvérsia constitucional, mesmo porque as partes deveriam tê-la suscitado quando do contraditório.
A Lei n.11.232 veio a adotar (com felicidade, parece-nos) solução intermédia: para considerar 'inexigível' a sentença, impõe-se que a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, que serviu como fundamento (maior e suficiente) do 'decisum', já haja sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal; mas tal declaração pode ter ocorrido tanto em ação de controle concentrado como em sede de controle difuso de constitucionalidade, neste segundo caso após suspensa pelo Senado - CF, art. 52, X , a execução da norma (Araken de Assis, Manual da Execução, Ed. RT, 9ª. ed., 2005, p. 1.066).
Uma série de indagações podem a respeito ser formuladas, mas as respostas implicariam, inclusive, detida análise do tema da assim chamada 'relativização' da coisa julgada (a cujo respeito mantemos, aliás, as maiores reservas). Certamente que "o respeito à garantia constitucional da coisa julgada e à lei é, sem dúvida, o melhor e mais razoável preço que o sistema como um todo paga como contrapartida da preservação de outros valores" (Paulo Henrique dos Santos Lucon, artigo na Revista do Advogado, AASP, n. 84, dez.-2005).
29. Objetivando coarctar alegações procrastinatórias do executado no pertinente ao 'excesso de execução', aditou-se parágrafo ao mesmo art. 475-L, verbis:
" § 2º. Quando o executado alegar que o exeqüente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação".
A novel regra possibilita ao exeqüente a imediata execução da parcela incontroversa, com manifestas vantagens em termos de celeridade e eficiência processual.
30. Conforme o art. 475-M, ao incidente de impugnação - e é natural que assim seja -, de regra não será atribuído efeito suspensivo, ou seja, a impugnação processar-se-á em autos apartados ( § 2º) e os atos executórios seguir-se-ão como previsto em lei.
Todavia, atendendo à possibilidade de ocorrência de casos excepcionais, a norma admite exceção, a saber:
"Art. 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação".
O magistrado, destarte, em criterioso exame das alegações do executado (ponderando a relevância dos fundamentos somada à probabilidade de dano grave e de difícil reparação), poderá conceder ao incidente processual a eficácia de impedir a prática dos atos executórios propriamente ditos.
Todavia, mesmo em tais casos, e de acordo com o parágrafo primeiro:
"§ 1º. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao apelante requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestadas nos próprios autos".
Em tal hipótese, a excepcional concessão de efeito suspensivo será revogada e, portanto, os atos executórios prosseguirão. Caso as alegações trazidas na impugnação venham a ser acolhidas, com a decretação de nulidade (ou a anulação) total ou parcial do processo, então os prejuízos sofridos pelo executado (v.g., devido à alienação do bem penhorado a um terceiro de boa-fé) estarão cobertos pela prévia e suficiente caução, arbitrada de pleno pelo juiz (evidentemente o valor dessa caução pode ser pelo juiz modificado para mais ou para menos, a fundado requerimento do interessado e atendendo às circunstâncias da causa) ( ).
Vale aditar que o magistrado, em casos excepcionais, diante da natureza e relevância das argüições constantes da impugnação (v.g., fundada alegação de nulidade da sentença porque proferida em processo com citação edital de pessoa já falecida), pode e deve indeferir a prestação de qualquer caução; assim, impedirá quaisquer atos executórios na pendência da impugnação.
31. O parágrafo segundo, a que acima já foi feita referência, contém regra prática de procedimento: se à impugnação for concedido o efeito suspensivo, será o incidente instruído e decidido nos mesmos autos; mas se incidente a regra geral, de ausência de efeito suspensivo, impõe-se sua autuação e processamento em apartado, a fim de não prejudicar o normal andamento dos atos executórios.
Finalmente, parágrafo terceiro, temos a questão do recurso cabível: de regra, por cuidar-se de incidente processual, da decisão que apreciar a impugnação caberá agravo por instrumento. Todavia, pode acontecer que o provimento judicial venha a 'extinguir a execução' (v.g., quando comprovada uma superveniente causa extintiva da obrigação, art. 475-L, VI; ou até a nulidade do processo em sua íntegra, caso do art. 475-L, I, em que a impugnação equivale a uma ação rescisória); em tais casos, o provimento judicial comporta naturalmente o recurso de apelação.
32. Dos títulos executivos judiciais. O art. 475-M da Lei 11.232 reproduz, com algumas alterações, o disposto no (agora revogado) art. 584 do CPC. Vejamos o novo texto, com as alterações em itálico:
"Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:
I - a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia;
II - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
III - a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo;
IV - a sentença arbitral;
V - o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente;
VI- a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;
VII - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, IV e VI, o mandado inicial (art. 475-J, incluirá a ordem de citação do devedor, no juízo cível, para liquidação ou execução, conforme o caso. "
33. Pelo inciso I, a expressão 'sentença condenatória proferida no processo civil' foi substituída, no Senado (em emenda considerada 'de redação'), pela expressão 'sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia'.
A emenda baseou-se na premissa, manifestamente equivocada, de que a nova sistemática teria abolido (?) as sentenças condenatórias, sem todavia ser ponderado que inclusive o art. 475-J expressamente alude ao devedor 'condenado' ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação. Evidente, a todas as luzes, persistirem os fundamentos jurídicos para o enquadramento das sentenças em declaratórias, constitutivas e condenatórias (sem falar nas mandamentais), apenas com modificação das cargas de eficácia (para usar da expressão de Pontes).
Mas, ao fim e ao cabo, a modificação resultou vantajosa, eis que, conforme conceituados processualistas já vinham preconizando, conferiu eficácia executiva também à sentença declaratória ('... que reconheça a existência de obrigação...'), dês que, naturalmente, nela definidos os pressupostos do art. 586 - liquidez, certeza e exigibilidade. Aliás - e é o argumento maior dos defensores da 'novidade' - , se uma simples nota promissória, ou um cheque, ou uma duplicata impõem-se como títulos executivos, por que negar plena executividade a uma sentença onde vem declarado, sob coisa julgada, que Tício deve a Mário a importância certa de 'x', a ser paga na data 'y' ? Por que exigir de Mário, apenas por 'amor aos princípios', a propositura de demorada ação de conhecimento, buscando obter uma segunda sentença, a qual dirá a mesma coisa apenas com o atributo formal da expressa eficácia 'condenatória' ?
Teori Zavascki, após detido exame da matéria, chegou à conclusão (ainda aludindo, notemos, ao sistema anterior à Lei 11.323/05, quando era expressa a menção à 'ação condenatória') de que "em nosso atual sistema, quando a sentença, proferida em ação declaratória, trouxer definição de certeza a respeito, não apenas da existência da relação jurídica, mas também da exigibilidade da prestação devida, não haverá razão alguma, lógica ou jurídica, para negar-lhe imediata executividade" (Processo de Execução, RT, 3ª ed., 2004, p. 312).
Neste mesmo sentido Paulo Henrique do Santos Lucon: "Se a sentença meramente declaratória contiver todos os elementos identificadores da obrigação (sujeitos, prestação, liquidez e exigibilidade) não há como se negar sua eficácia executiva. Impor uma nova cognição para que sentença futura imponha apenas a sanção executiva atenta contra o bom senso e a economia processual" (artigo na Revista do Advogado, AASP, nº 84, dez. 2005, p. 152).
Assim, embora por vias travessas, a emenda terá vindo ao encontro dos melhores propósitos de celeridade e de eficiência processual.
34. Pelo inciso V, o rol dos títulos executivos judiciais passou a incluir o acordo extrajudicial, 'de qualquer natureza', uma vez homologado em juízo. Esta norma já constava da Lei nº 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Estaduais, em seu art. 57, sendo geralmente compreendido cuidar-se de regra transcendente ao âmbito dos Juizados Especiais ( ). Como escreveu Carreira Alvim, "essa norma não é exclusiva dos juizados especiais, tratando-se de norma parcialmente heterotópica, pelo que o 'juízo competente' tanto pode ser o juizado especial quanto a justiça comum (estadual ou federal), conforme a hipótese" ( Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Ed. Juruá, 2ª ed., 2003, p. 124).
É de esperar que a inclusão da norma no elenco dos títulos executivos judiciais, previstos no CPC, venha a incentivar a utilização de tal meio alternativo de composição dos conflitos de interesses, pela desejável autocomposição, resolvendo-se "a lide sociológica de maneira puramente não-adversarial" (Joel Dias Figueira Júnior et alii, 'Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais', RT, 4ª ed., 2005, p.
35. O preceito do antigo parágrafo único do art. 584 - limitação subjetiva da plena eficácia dos formais e certidões de partilha - passou a integrar o inciso VII do art. 475-
Assim, o 'novo' parágrafo único do art. 475-N veio a dispor que nos casos do inciso II (sentença penal), do inciso IV (sentença arbitral) e do inciso VI (sentença estrangeira), o mandado inicial (de penhora e avaliação) incluirá também a ordem de citação do devedor para comparecer ao juízo cível executório. Com efeito, nestes casos a inexistência de um anterior processo cível de conhecimento (em que o réu já haja sido citado) obriga ao chamamento formal do executado a fim de, inclusive, permitir-lhe apresentar impugnação.
Diga-se que tal chamamento também se impõe na hipótese do inciso V, em que o título judicial é o acordo extrajudicial simplesmente homologado em juízo.
36. Passemos à execução provisória da sentença, cabível "quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo" (art. 475-I, § 1º).
O art. 475-O reproduz, de uma maneira geral, o disposto no revogado art. 588, com emendas em sua maioria 'de redação' (apresentadas no Senado). Vejamos.
No inciso I, a expressão "corre por conta e responsabilidade do exeqüente", foi aditada para "corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente", acréscimo aliás não necessário porque no art. 475-J já está dito que os atos executórios iniciais são praticados a 'requerimento do credor' (atendido em seu requerimento, o credor torna-se processualmente 'exeqüente' ).
O inciso II reúne os antigos incisos III e IV do revogado art. 588, com a previsão de que eventuais prejuízos (decorrentes de execução provisória ao final desconstituída) deverão ser liquidados pela via mais simples do arbitramento.
O inciso III reproduz o antigo inciso II, com a substituição da expressão 'alienação de domínio' pela mais adequada expressão 'alienação de propriedade' (CC 2002, art. 1.231); a 'caução idônea' passou a constar como 'caução suficiente e idônea' (aliás, se idônea, por certo será suficiente) e é prevista sua fixação 'de plano pelo juiz', evitando-se qualquer exegese mais formalista no tocante a tal arbitramento.
O § 2º do art. 475-O trata mais detalhadamente dos casos de dispensa da caução, ampliando tal benefício processual. Pela norma antiga, a dispensa de caução era prevista para os créditos de natureza alimentar, em valor não excedente a sessenta salários mínimos, caso o exeqüente se encontrasse em estado de necessidade.
A Lei nº 11.232 inclui na dispensa também os créditos provenientes de ato ilícito (inclusive, portanto, danos morais), embora mantido o limite dos sessenta salários mínimos. Mas são igualmente incluídos, agora sem limite quantitativo e sem exigência de pobreza, os casos de execução provisória requerida na pendência de agravo de instrumento ao STF ou ao STJ (agravos impugnando a não-admissão, pela Presidência do tribunal a quo, de recurso extraordinário ou recurso especial); com isso, busca-se desestimular a utilização de tal agravo apenas para 'ganhar tempo'. Todavia, é ressalvada a hipótese em que da execução provisória possa 'manifestamente' resultar grave e irreparável dano ao executado (suposto, é claro, um exame, embora superficial, da 'verossimilhança' das alegações do recorrente; se o agravo aparenta ser procrastinatório, não irá ser imposta caução ao credor...).
O § 3º do art. 475-O revela posição antiformalista, pois implica dispensa da 'carta de sentença' (ainda mencionada no art. 521, in fine) para servir de base ao requerimento de execução provisória. Basta à parte, de agora em diante, obter as peças processuais elencadas no parágrafo, com a possibilidade de sua autenticação pelo próprio advogado. São expressamente revogados os arts. 589 e 590 (Lei nº 11.232,
37. Quanto ao juízo competente para proceder aos atos de cumprimento da sentença, competência que é funcional e, pois, absoluta, o art. 475-P mantém, em princípio, as disposições do art. 575, agora revogado (embora não constante tal revogação do elenco do art. 9º). Assim, iudex executionis est ille, qui competenter tulit sententiam.
Notemos que, no concernente ao cumprimento das sentenças, são competentes não apenas os 'tribunais superiores' (como constava do antigo art. 575, I), mas sim 'os tribunais' em geral (como está no art. 475-P, I), quando se tratar do cumprimento de acórdão (que 'sentença' é) proferido em causa de competência originária do colegiado (no magistério de Pontes de Miranda, "vale para os Tribunais de Justiça o que se disse quanto ao Supremo Tribunal Federal e quaisquer outros tribunais" (Comentários ao Código de Processo Civil, v. IX,
Os tribunais, vale ressalvar, "só têm competência executiva quando perante eles originariamente fluiu o processo cognitivo; o fato de terem julgado o feito em grau de recurso não desloca para eles essa competência, que continua sendo do juiz a quo" (Cândido Dinamarco, Execução Civil, Malheiros Ed., 5ª ed., 1997, n. 123, p. 205).
Podem os tribunais (e costumam) delegar atribuições, para a prática de atos processuais de execução, a juízo inferior, com a expedição de cartas de ordem (Cândido Dinamarco, ob. cit., nº 126, p. 210-211), sendo no entanto defesa a delegação de competência para os atos decisórios, relativos a incidentes processuais (Teori Zavascki, Processo de Execução, RT, 3ª ed., 2004, p. 125).
38. Em segundo lugar, é competente, como preceito básico, "o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição". Neste passo, em um oportuno parágrafo único ao art. 475-P, a Lei 11.232 abre ao exeqüente a opção pelo juízo do local onde se encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo do atual domicilio do executado. Para exercer tal faculdade, a parte pedirá ao juízo prolator da sentença que determine a remessa do processo ao juízo que irá processar os atos executivos. Caso, assim, de deslocamento de competência, visando facilitar a entrega ao exeqüente do bem da vida a que tem direito.
Finalmente, nos casos de cumprimento de sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença estrangeira, a execução processar-se-á perante 'o juízo cível competente', de conformidade com as normas do CPC ( ).
39. O art. 475-Q (que substitui o revogado art. 602) cuida da ordem do juiz ao devedor para que proceda à constituição de capital capaz de garantir o pagamento, geralmente mensal, de prestações alimentares decorrentes de indenizações pela prática de ato ilícito.
Assim, no caput, além de pequenas modificações de redação, observa-se que a expressão "cuja renda assegure o seu cabal cumprimento" foi substituída pela mais precisa expressão "cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão". E a expressão "condenará o devedor a constituir um capital" foi alterada para "poderá ordenar ao devedor constituição de capital", permitindo assim ao juiz, consideradas as circunstâncias do caso concreto, isentar o devedor de tal ônus, como está expresso no § 2º do mesmo artigo; além disso, a constituição do capital resulta não de uma 'condenação' do devedor (a condenação é ao pagamento de indenização), mas sim de uma 'ordem' do magistrado ao devedor.
No parágrafo primeiro foram incluídas as "aplicações financeiras em banco oficial", ao lado dos imóveis e dos títulos da dívida pública, como integrantes da garantia, que deve perdurar enquanto subsistir a obrigação do devedor.
40. Já o parágrafo segundo do aludido artigo passou a dispor, com muito maior eficiência, da seguinte forma:
"§ 2º. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento de entidade de direito público ou de empresa de direito privado de notória capacidade econômica, ou, a requerimento do devedor, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz".
Valem as seguintes observações:
a) a previsão antiga, de apresentação de 'caução fidejussória', a ser oferecida "na forma do art. 829 e seguintes", era de pouca valia e mui raramente utilizada;
b) tendo em vista as incertezas da economia, cabe ao juiz usar de prudência ao avaliar as possibilidades empresariais da 'empresa de direito privado de notória capacidade econômica';
c) as prestações de fiança bancária, ou de garantia real, importando em despesas de certa monta, dependem de requerimento do devedor, não podendo o juiz ordenar de ofício a substituição.
O parágrafo terceiro dispõe que "se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação" . Como escreveu Teori Zavascki (referindo-se ao § 3º do antigo art. 602, que mencionava a "redução ou aumento do encargo") trata-se de "norma de direito material, com repercussão no domínio do processo", pois neste passo explicita a lei "a incidência, às sentenças indenizatórias desta natureza, da cláusula rebus sic stantibus" ( Comentários ao CPC, RT, v. 8, 2ª ed. , 2003, p. 309).
Uma 'novidade' está no parágrafo quarto: elidindo dúvidas, é expressamente previsto que os alimentos podem ser fixados tomando por base o salário-mínimo.
Por fim, com alteração redacional, o parágrafo quinto dispõe quanto ao cancelamento dos encargos uma vez "cessada a obrigação de prestar alimentos".
41. Consoante o art. 475-R :
"Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas que regem o processo de execução de título extrajudicial".
Assim, v.g., as normas sobre a penhorabilidade de bens e as normas sobre os meios executórios, contidas no Livro II, continuam a aplicar-se, 'no que couber', ao cumprimento da sentença.
É possível, todavia, que nessa aplicação venham a ser apontadas algumas dificuldades de harmonização, enquanto não for aprovado, pelo Congresso Nacional, o Projeto nº 4.497/04 (em março de 2006 ainda pendente na Câmara dos Deputados), o qual altera em numerosos aspectos a execução por título extrajudicial, modernizando-a e tornando-a inclusive inteiramente compatível com a sistemática adotada na Lei 11.232.
Corretamente, Leonardo Greco aduziu ser ainda difícil prever a nova lei conterá em si “todo o potencial com que é anunciada”, porquanto seus resultados “estão indissociavelmente ligados à aprovação de um outro projeto de lei, o de nº 4.497, que ainda tramita na Câmara dos Deputados, sobre a execução em geral e que altera profundamente todos os atos do procedimento de execução por quantia certa” (Dialética cit., 36/70).
42. O art. 5º da Lei 11.232/05 modifica o art. 741; em conseqüência, o Capítulo II (Título III, Livro II) tem sua epígrafe alterada de "Dos Embargos à Execução Fundada em Sentença" para "Dos Embargos à Execução contra a Fazenda Pública".
Estas modificações não constavam do anteprojeto originário, e foram inseridas no texto durante sua prévia apreciação pelo Executivo. Foi, então, considerado prudente delimitar a matéria sobre a qual podem versar os embargos que à Fazenda Pública, nas execuções contra ela promovidas, é facultado opor no prazo de trinta dias, como dispõe o art. 730 ( ).
Haverá mister, todavia, de compatibilizar a execução fundada em sentença proferida contra a Fazenda, com o sistema agora implantado pela Lei 11.232, de radical abolição da 'ação autônoma' de execução de sentença. Em nosso parecer, prevalece o sistema da lei nova, aliás compatível com as prerrogativas processuais da Fazenda. Assim, transitada em julgado a sentença condenatória, e porque não há penhora de bens públicos, passa a fluir o trintídio para eventual impugnação pela devedora. Não apresentada impugnação, ou rejeitada, segue-se a requisição de pagamento, nos termos do art. 730. Matéria da impugnação: a prevista no art. 741.
Conforme a Súmula 279 do STJ, "é cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública" (Corte Especial, 21.5.2003), enunciado este que doutrina dominante considera constitucional, porquanto, como refere Araken de Assis, "a Fazenda Pública obriga-se, validamente, através de documentos afeiçoados aos números do art. 585 do CPC" (Manual da Execução, RT, 9ª ed., 2005, nº 422, p. 916). Em se cuidando de título extrajudicial, o art. 730 do CPC aplicar-se-á na íntegra.
43. Cumpre, no azo, salientar que, como conseqüência necessária da nova sistemática, resultou alterada, após inúmeras sugestões (inclusive nas Jornadas realizadas pelo IBDP em Foz do Iguaçu, ano de 2003) a própria definição de sentença.
O antigo teor, ligado ao conceito de 'termo ao processo':
"Art. 162. ........................................................
§ 1º. Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.
......................................................................... ."
Nova redação, revelada (por emenda no Senado) no artigo 1º da Lei nº 11.232, nos seguintes termos :
"Art. 162 .............................................................
§ 1º. Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei.
............................................................... ."
Com efeito, a sentença não mais põe termo ao processo (como estava no art. 162, § 1º, redação anterior), pois o processo prosseguirá - sempre 'o mesmo' processo, com a fase de cumprimento do julgado. Diga-se, aliás, que a sentença só punha 'termo ao processo' se dela não fosse interposto recurso nenhum, e se dela não coubesse a execução imediata prevista em procedimentos especiais...( mesmo assim, remanescia a questão das condenações sucumbenciais).
A definição agora adotada suscitará críticas; todavia, impende reconhecer a dificuldade em conceituar 'sentença'. Talvez houvesse sido melhor que o Código definisse apenas o despacho e a decisão interlocutória, deixando à doutrina a definição de sentença.
44. O art. 1º da Lei 11.232 igualmente alterou o art. 269. Onde era dito: "Extingue-se o processo sem julgamento de mérito", o anteprojeto propunha a seguinte redação: "Haverá resolução de mérito:...".
Todavia - com suporte, diga-se, em observações de juristas eminentes, a palavra 'julgamento' (imprópria nos casos, v.g., de homologação de transações) foi substituída pela palavra 'resolução', de conceito polissêmico.
No magistério de Moniz de Aragão, nem todas as hipóteses do art. 269 "são de julgamento, pois algumas há em que isso não acontece, uma vez que a lide, em vez de composta pelo Estado, através de sentença, é composta pelos interessados, por ato próprio" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. II, 9ª ed., n. 547, p. 420) ( ).
Todavia, não cremos que a palavra 'resolução' haja conceituado, com maior precisão, o conteúdo da sentença. Vale o antigo rifão: "omnis definitio periculosa est ".
Em decorrência da alteração ao art. 269, emenda (aprovada no Senado) veio a incluir no Projeto alteração também ao art. 267, que assim ficou redigido:
"Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
............................................................................ ."
Como vemos, a emenda todavia manteve a expressão "extingue-se o processo", menos compatível com a nova sistemática, por tudo que já foi exposto. Melhor seria se o art. 267 se limitasse a dizer, a exemplo do art. 269, que nos casos nele relacionados não haveria resolução do mérito.
Também foi modificado, pelo art. 1º da Lei nº 11.232, o art. 463, cuja parte inicial antes dispunha:
"Art. 463. Ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, só podendo alterá-la:
.............................................................. ."
Pelo texto atual:
"Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
........................................................................... ."
A nova redação extinguiu, destarte, aquela referência a que, com a prolação da sentença, o juiz 'cumpre e acaba o ofício jurisdicional'. Bem o fez, mesmo porque o juiz cumpre seu ofício jurisdicional durante todo o decorrer do processo, desde que admite a petição inicial, e não apenas ao proferir a sentença; além disso, com a prolação da sentença - embora ato culminante do processo, o juiz não acaba o oficio jurisdicional, que prosseguirá com as atividades processuais decorrentes da interposição de recurso e do cumprimento da própria sentença ou do acórdão que eventualmente venha a substituí-la. Aliás, a 'entrega' da prestação jurisdicional realmente só se efetua quando a sentença passa em julgado (Frederico Marques, Instituições de Direito Processual Civil, Forense, v. V, 1960, n. 1.069).
45. Nos atuais artigos 466-A, 466-B e 466-C são reproduzidos os revogados arts. 641, 639 e 640 do CPC, sem alteração dos textos. Tais normas foram trazidas do Livro II, onde se encontravam (embora não dissessem respeito à execução), e 'repatriadas' no Livro I, ao final da Seção II (Cap. VIII, Tít. VIII), alusiva aos 'requisitos e efeitos da sentença'.
Como ensinou Flávio Yarshell, em consagrada monografia, "a tutela jurisdicional que se opera pela prolação de uma sentença substitutiva dos efeitos de declaração de vontade caracteriza-se como típica providência cognitiva, não se revestindo de caráter executivo, exceto se adotada para este último uma perspectiva muito ampla e genérica" (Tutela Jurisdicional Específica nas Obrigações de Declaração de Vontade, Malheiros Ed., 1993, nº2.7, p. 55) (grifamos).
No magistério de Barbosa Moreira, "apesar da localização no texto do Código, o assunto de que tratam os artigos 639/641 nada tem que ver com o processo de execução, que, por supérfluo, nem sequer chega a formar-se. Aqueles dispositivos regulam questões pertinentes à atividade cognitiva do órgão judicial. O lugar apropriado seria o capítulo referente aos efeitos da sentença" ( Aspectos da 'execução' em matéria de obrigação de emitir declaração de vontade, nº 6, p. 215).
Por oportuna advertência deste eminente processualista, a Lei nº 11.232 corrigiu também a ordem dos artigos, a fim de que as normas se sucedessem da maior para a menor generalidade.
46. O art. 6º da Lei 11.232 reproduz o artigo 1.102-C, apenas sendo corrigidas as remissões ao final do caput e ao final do § 3º, em decorrência do deslocamento de normas do Livro II para o Livro I.
O art. 7º prevê uma republicação de partes do CPC no Diário Oficial da União, "com as alterações decorrentes desta Lei", no prazo de trinta dias. Providência didática.
O art. 8º prevê uma 'vacatio legis' de seis meses após a data da publicação. A Lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial do dia 23 de dezembro, deverá entrar em vigor, assim, no dia 23 de junho do corrente ano de 2006.
Pelo art. 9º, "ficam revogados o inciso III do art. 520, os arts. 570, 584, 588, 589, 590, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 639, 640 e 641, e o Capitulo VI do Título I do Livro II" do Código de Processo Civil.
47. Cabe uma penúltima observação, relativa ao direito intertemporal.
Os processos de execução que se encontravam pendentes em juízo, continuam a reger-se pelas normas processuais anteriores. Da mesma forma, até a véspera do dia de entrada em vigor da Lei 11.232, o cumprimento da sentença condenatória deve ser requerido nos 'antigos' termos, portanto em processo autônomo ; e a execução será processada com observância das normas anteriores, as quais para esse efeito continuam vigentes.
Anotemos que à parte vencedora, já dispondo em seu favor de sentença condenatória transitada em julgado, é facultado aguardar até o dia 23 de junho de 2006 e, então, requerer seu cumprimento já de acordo com a Lei 11.232. Ou, se for caso de execução provisória, requerê-la já conforme as novas normas.
A respeito do tema, lembremos a clássica monografia de mestre Galeno Lacerda, com o asserto de que,
"em regra, porém, cumpre afirmar que a lei nova não pode atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o império da lei antiga, isto é, não pode ferir os respectivos direitos processuais adquiridos. O princípio constitucional de amparo a esses direitos possui, aqui também, plena e integral vigência" (‘O Novo Direito Processual Civil e os Feitos Pendentes’, Forense, 1974, p. 13).
48. Em derradeiro, tendo em vista críticas doutrinárias (sempre, por certo, desejáveis e respeitáveis) que já surgem relativamente a aspectos da nova legislação, reveladoras de uma certa ojeriza diante de mudanças, cumpre afirmemos que princípios jurídicos antes dominantes podem, e devem, ser excluídos ou mitigados, tendo em vista outros princípios que ressurgem ou se ampliam diante de situações novas, de novas contingências sociais e jurídicas.
Encerremos, pois, com as válidas observações de José Miguel Garcia Medina, no sentido de que:
"Os problemas surgidos após as reformas realizadas a partir de 1990 do sistema jurídico-processual evidenciam que sua análise exige do processualista um novo modo de pensar, distinto daquele apegado a premissas dogmáticas antigas, que influenciavam o sistema jurídico de outrora. Por isso, não é possível analisar um problema 'novo' valendo-se de uma metodologia 'antiga', assim como não se pode empregar os antigos conceitos jurídicos para explicar os novos fenômenos. Esta opção metodológica tem o grave defeito de, ao invés de elucidar os problemas, turvá-los, transmitindo a falsa idéia de que não houve alguma transformação ou evolução no direito processual civil" (Execução Civil, Saraiva, 2ª ed., 2004, nº 1, p. 25).
Porto Alegre, março de 2006.
Athos GusmÃo Carneiro
Ministro aposentado do STJ. Presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Advogado.
- © 2009 - Carneiro e Alencar
- Rua Quintino Bocaiúva, 683, Conj. 203 / 204
- Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS
- Fones: 51 3330 6955 - Fax: 51 3330 3422